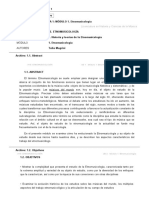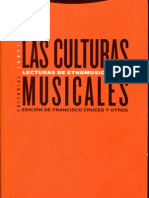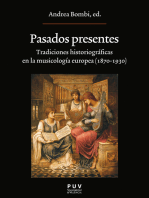Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Geografia Da Musica - Balanco
Geografia Da Musica - Balanco
Cargado por
Amadeu ZoeDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Geografia Da Musica - Balanco
Geografia Da Musica - Balanco
Cargado por
Amadeu ZoeCopyright:
Formatos disponibles
13:
✺
GEOGRAFIA DA MÚSICA: UM
BALANÇO DE TRINTA ANOS DE
PESQUISAS NO BRASIL
■ LUCAS MANASSI PANITZ
Doutor em Geografia. Docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: lucas.panitz@ufrgs.br
Recebido em: 03/06/2021
Aprovado em: 16/11/2021
Resumo: A geografia da música se constituiu nas últimas décadas como um promissor campo de
pesquisas nos países do norte global, e mais recentemente no Brasil, contribuindo para a compreensão
das relações entre espaço e cultura. Neste texto vou abordar o tema por três eixos. O primeiro trata de um
breve histórico do desenvolvimento desse campo na passagem dos séculos XIX e XX a partir de geógrafos
e etnólogos. O segundo trata especificamente das geografias anglófona e francófona e seus principais
autores. Por fim, o terceiro eixo traz uma revisão dos trinta anos de pesquisa sobre geografia da música no
Brasil, expondo a diversidade de abordagens teóricas e interesses. Os dados levantados revelam mais
setenta teses e dissertações defendidas, organização de coletâneas, dossiês em revistas científicas e
eventos, evidenciando uma recente institucionalização desse campo na ciência geográfica brasileira. Neste
sentido, argumento que a geografia tem contribuído para os estudos da música ao registrar e analisar a
sociedade brasileira e sua música na perspectiva de sua espacialidade
Palavras-Chave: Geografia cultural; Música; Geografia da Música; Geografia brasileira.
GEOGRAFÍA DE LA MÚSICA: UN BALANCE DE LOS TREINTA AÑOS DE
INVESTIGACIONES EN BRASIL
RESUMEN: LA GEOGRAFÍA DE LA MÚSICA SE HA CONSTITUÍDO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS COMO
UN NUEVO CAMPO DE INVESTIGACIONES EN LOS PAÍSES DEL NORTE GLOBAL, Y MÁS
RECIENTEMENTE EN BRASIL, CONTRIBUYENDO PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS RELACIONES
ENTRE ESPACIO Y CULTURA. EN ESTE ARTÍCULO PLANTEO EL TEMA POR TRES EJES. EL
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
14:
PRIMERO TRATA DE UN BREVE HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE ESE CAMPO EN LA TRANSICIÓN
DE LOS SIGLOS XIX Y XX. EL SEGUNDO TRATA DE LAS GEOGRAFÍAS ANGLÓFONA Y
FRANCÓFONA Y SUS PRINCIPALES AUTORES. POR FIN, EL TERCER EJE TRAE UNA REVISIÓN DE
LOS TREINTA AÑOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE GEOGRAFÍA DE LA MÚSICA EN BRASIL, CON SU
DIVERSIDAD DE ABORDAJES TEÓRICOS E INTERÉS. LOS DATOS REVELAN UNAS SETENTA
TESINAS Y TÉSIS DEFENDIDAS, ORGANIZACIÓN DE LIBROS, NÚMEROS ESPECIALES EN
REVISTAS CIENTÍFICAS Y EVENTOS QUE EVIDENCIAN UNA RECIENTE INSTITUCIONALIZACIÓN DE
ESE CAMPO EN LA CIENCIA GEOGRÁFICA BRASILEÑA. EN ESTE SENTIDO, SE VE QUE LA
GEOGRAFÍA HA CONTRIBUIDO PARA LOS ESTUDIOS DE LA MÚSICA AL REGISTRAR Y ANALIZAR
LA SOCIEDAD BRASILEÑA Y SU MÚSICA DESDE LA PERSPECTIVA DE SU ESPACIALIDAD.
PALABRAS CLAVE: GEOGRAFÍA CULTURAL; MÚSICA; GEOGRAFÍA DE LA MÚSICA; GEOGRAFÍA
BRASILEÑA.
MUSIC GEOGRAPHY: A BALANCE OF THIRTY YEARS OF RESEARCH IN
BRAZIL
ABSTRACT: THE GEOGRAPHY OF MUSIC HAS BEEN CONSTITUTED IN RECENT DECADES AS A
PROMISING FIELD OF RESEARCH IN THE COUNTRIES OF THE GLOBAL NORTH, AND MORE
RECENTLY IN BRAZIL, CONTRIBUTING TO THE UNDERSTANDING OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN SPACE AND CULTURE. I WILL DEVELOP THIS THEME ALONG THREE AXES. THE FIRST
BRINGS A BRIEF HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THIS FIELD AT THE TURN OF THE 19TH AND
20TH CENTURIES FROM GEOGRAPHERS AND ETHNOLOGISTS. THE SECOND FOCUSES
SPECIFICALLY ON ANGLOPHONE AND FRANCOPHONE GEOGRAPHIES AND THEIR MAIN
AUTHORS. FINALLY, THE THIRD AXIS BRINGS A REVIEW OF THIRTY YEARS OF RESEARCH ON
THE GEOGRAPHY OF MUSIC IN BRAZIL, EXPOSING THE DIVERSITY OF THEORETICAL
APPROACHES AND INTERESTS. THE ANALYZED DATA REVEAL MORE THAN SEVENTY THESES
AND DISSERTATIONS PUBLISHED, ORGANIZATION OF BOOKS AND SPECIAL ISSUES IN
SCIENTIFIC JOURNALS AND EVENTS, EVIDENCING A RECENT INSTITUTIONALIZATION OF THIS
FIELD IN BRAZILIAN GEOGRAPHIC SCIENCE. IN THIS SENSE, I ARGUE THAT GEOGRAPHY HAS
CONTRIBUTED TO THE STUDIES OF MUSIC BY RECORDING AND ANALYZING BRAZILIAN SOCIETY
AND ITS MUSIC FROM THE PERSPECTIVE OF ITS SPATIALITY.
KEYWORDS: CULTURAL GEOGRAPHY; MUSIC; MUSIC GEOGRAPHY; BRAZILIAN GEOGRAPHY.
Introdução
A música tornou-se um interesse manifesto para as geógrafas/os do Brasil há
exatos trinta anos. O trabalho pioneiro de João Baptista Ferreira de Mello inaugura um
campo de pesquisa que tem se consolidado de forma rápida e profícua, calcado na análise
da diversidade e da espacialidade musical brasileira. Neste artigo, atualizo o texto
redigido há dez anos atrás (Panitz, 2012), realizando um balanço dos trinta anos da
geografia da música no país. Para tanto, apresentarei de maneira breve um histórico do
desenvolvimento da deste campo em âmbito mundial, localizando tempos-espaços
significativos. Na seção seguinte o foco será o desenvolvimento da pesquisa no Brasil,
evidenciando a pluralidade de temáticas e abordagens teóricas. Importante alertar às
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
15:
leitoras/es que nomearei como "geografia da música" aquele conjunto de trabalhos que
consideram - cada um à sua maneira - a música como objeto de estudo pela geografia. Se
trata de uma geografia do objeto e não uma geografia adjetivada (crítica, cultural,
urbana, agrária etc.). Isso nos permite englobar as diferentes perspectivas teórico-
metodológicas envolvidas e centrarmos nosso interesse na música como escolha de
pesquisa.
Um Histórico da Geografia da Música
A gênese do interesse que vincula música e espaço está em uma relação entre a
geografia, a etnologia e a arqueologia ao final do século XIX. Exclusivamente no campo
da geografia, a música, entre idas e vindas, tem chamado atenção das/os geógrafas/os
há praticamente um século, embora não possamos ainda comparar com o volume de
trabalhos realizados por outras ciências humanas e sociais como antropologia, história,
sociologia e estudos culturais. Nos últimos trinta anos, contudo, percebe-se que ela tem
se tornado um interesse recorrente, trazendo contribuições para o próprio
desenvolvimento da ciência geográfica. Uma profusão de materiais disponíveis em
formato digital, permite que se reconheça esse campo e alguns de seus principais espaços
de produção acadêmica, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e mais
recentemente o Brasil. Este último, nas últimas três décadas, acumulou dezenas de
artigos, coletâneas, trabalhos monográficos (teses, dissertações) e espaços de debates
especializados. Neste sentido, apresento um panorama global destas pesquisas, com foco
no desenvolvimento particular do Brasil na institucionalização da geografia da música
como um campo de estudos emergente, marcado pela diversidade de abordagens e pela
valorização da diversidade musical do país.
As raízes da discussão na Alemanha e na França
Os primeiros registros que relacionam o estudo da dimensão espacial da música
podem ser atribuídos à Friedrich Ratzel e seu discípulo Leo Frobenius, etnólogo e
arqueólogo africanista. Reynoso (2006) afirma que Ratzel, atento aos indícios da cultura
material e sua difusão, observou similaridades entre a morfologia dos arcos e flechas da
África Ocidental e da Melanésia. Frobenius levou a perspectiva adiante, relacionando
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
16:
similaridades entre os tambores, levando-o ao desenvolvimento da noção de Círculos
Culturais (Kulturkreis) compartilhada com os etnologistas austríacos Fritz Graebner e
Wilhelm Schmidt - todos estes influenciados pelo difusionismo de Ratzel. Partindo dessa
noção, a partir do estudo da distribuição espacial de instrumentos musicais, entre outros
procedimentos, Frobenius estabeleceu regionalizações na África que remetem aos ciclos
de difusão de etnias, propondo, por exemplo, a seguinte divisão e seus respectivos
instrumentos: Negrítico (madeiras de ritmo, como clave e reco-reco), Malaio-Negrítico
(alaúde de bambu, tambor, timbal de madeira, marimba), Indo-Negrítico (violino,
guitarra, tambor de cerâmica, timbal de ferro, tamborim) e Semítico-Negrítico
(berimbau, gora, tambor de morteiro, tambor de vaso). Ao estabelecer áreas culturais
com base na ocorrência espacial dos instrumentos musicais na África, Leo Frobenius
pode ser considerado o primeiro sistematizador da relação espaço e música, que irá
influenciar toda uma geração de etnólogos e musicologistas. Na busca de uma possível
gênese do interesse da Geografia moderna pela música, até o presente momento
encontramos em Ratzel o princípio inspirador, bem como em Frobenius o
desenvolvimento teórico e empírico deste princípio.
É importante lembrar que a noção de círculos culturais postulava que todas as
inovações partiam de um certo número de civilizações para se difundir pelo resto do
globo, o que foi posteriormente criticado pelo antropólogo (e geógrafo) alemão Franz
Boas. Este dizia que haveria uma multi-determinação dos traços culturais e que certas
inovações poderiam surgir concomitantemente em diferentes lugares. Tal ambiente de
discussões e revisões sobre os preceitos difusionistas e de migrações influenciaram
diretamente a Antropologia e a Geografia Cultural norte-americanas. A partir da
Universidade de Berkeley, o geógrafo Carl Sauer colabora frequentemente com Alfred
Kroeber (ex-aluno de Boas na Universidade de Columbia) no desenvolvimento do
conceito de área cultural como recortes espaciais estáveis e de longa permanência
(Krober, 1939). Por sua vez, alguns discípulos de Sauer e de sua geografia cultural, foram
aqueles que desenvolveram a perspectiva difusionista no estudo geográfico da música.
Neste sentido, é explícita uma das vias de influência da antropologia e geografia alemãs
nos Estados Unidos.
Ainda nas duas primeiras décadas do século XX, na França, o etnólogo e geógrafo
Georges de Gironcourt propõe um novo campo de estudos denominado "geografia
musical" nos Annales de Géographie da Associação Francesa de Geografia (Gironcourt,
1927), tendo realizado diversos estudos na Tunísia, Java e Camboja. O autor afirma que
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
17:
“pode-se admitir que o repertório de sons eles mesmos e de suas associações em
combinações musicais foram até agora negligenciados pelos geógrafos.” (p. 292).
Segundo o autor, a geografia musical deveria se debruçar sobre as formas musicais
através do espaço e do tempo, permitindo analisar a fixação e a mobilidade de sociedades
e civilizações. A simples introdução, por exemplo, de certo tipo de sino em uma banda
de jazz norte-americana, pode dar informações importantes sobre a origem étnica e
geográfica de determinados grupos, mas também de instrumentos e formas musicais que
vão se transformando e se adaptando a cada sociedade em que são inseridos. É assim que,
em trabalho posterior, Gironcourt (1939) expõe alguns dos resultados pessoais coletados
ao longo de doze anos dedicados ao tema. No referido texto, o autor afirma através de
diversos estudos que é possível recompor a mobilidade de populações e suas origens
através das formas musicais. Estas, segundo ele, permanecem no tempo e no espaço ao
longo da história humana ou se modificam levando algumas características pretéritas
para outros lugares: ou seja, há um caráter de fixidez e um caráter de mobilidade dos
grupos humanos os quais podem ser estudados através da música. Se para Frobenius,
portanto, as indagações de pesquisa partiam de uma dimensão difusionista da cultura
material, Gironcourt se interessava sobretudo pelas formas imateriais como os ritmos,
as harmonias e as melodias, em uma análise que liga o passado ao presente.
Após as publicações de Gironcourt, ao final da década de 1930, a geografia
francesa permaneceu distante do tema, até que grupos de geógrafos retomaram seu
interesse a partir da década de 1990 de forma mais sistemática, como veremos a seguir.
Da Escola de Berkeley à geografia social e cultural francesa
Nash & Carney (1996), dois dos principais precursores do tema na América do
Norte, fazem um retrospecto das últimas três décadas de trabalhos na área, no mundo
anglófono. Os autores ainda avaliam que desde a década de 1960 até 1996, mais de
quarenta artigos haviam sido publicados em revistas internacionais e nacionais e quase
o mesmo número de papers sobre o tema foram apresentados em encontros de geografia
e ciências humanas. Eles ainda atribuem à conferência “The Place of Music” organizado
pelo Instituto de Geógrafos Britânicos e as sessões especiais de geografia da música na
Associação de Geógrafos Americanos, ambos realizados na primeira metade da década
de 1990, como notáveis indícios da credibilidade da disciplina, considerada pelos mesmos
com um subcampo da geografia cultural. Essa credibilidade, segundo os autores, também
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
18:
foi corroborada pelas citações dos pesquisadores da área em atlas, enciclopédias,
bibliografias, livros-textos de geografia humana e livros acadêmicos. Eles observam
ainda que geógrafos anglófonos (sobretudo estadunidenses e canadenses), influenciados
pela Geografia cultural da Escola de Berkeley, focaram-se boa parte das pesquisas na
descrição das representações espaciais nas canções, nas análises locacionais e de difusão
de ritmos, instrumentos e práticas musicais, e na regionalização destes. Contudo, a partir
da referida conferência supracitada, surge uma renovação dos estudos em direção à
abordagens mais críticas. Estas abordagens, por certo, refletem a renovação da geografia
cultural anglófona, como James Duncan e Denis Cosgrove que refutam a ideia saueriana
de cultura como elemento supraorgânico (Duncan, 1980) e dialogam diretamente com o
campo dos estudos culturais. O livro decorrente da referida conferência The Place of
Music trata de expor a perspectiva da coletânea. Se opondo ao tratamento dado pela music
geography de influência saueriana, como George Carney e Peter Nash, os autores
afirmam:
o trabalho geográfico sobre música teve até pouco recentemente uma tendência de
restringir-se ao mapeamento de difusão de estilos musicais, ou analisar o imagético
geográfico nas letras de canções, trabalhando com um restrito senso de geografia,
oferecendo o ângulo de um geógrafo fincado ao chão, ao invés de se perguntar o quanto
uma abordagem geográfica pode reconfigurar o próprio chão que pisa. [...] The Place of
Music apresenta espaço e lugar não como simples locais onde a música é fabricada, ou de
onde ela é difundida. Ao invés disso, diferentes espacialidades são sugeridas como
formadoras do som. […] Considerar o lugar da música não é reduzi-la a sua localização,
estabelecer um ponto exato no espaço, mas permitir uma abordagem rica em estéticas,
culturas, economias e geografias políticas da linguagem musical (LEYSHON,
MATLESS, REVILL, 1998, p.4).
Seguindo esta abordagem, a geógrafa singapurense Lily Kong realiza um esforço
de pensar uma análise geográfica da música popular, na esteira das discussões de sua tese
de doutorado sobre música, políticas culturais, identidade e globalização em Singapura.
Kong (1995) afirma que, como interesse geográfico, a música não foi explorada
largamente e os estudos publicados até então mantiveram uma distância das questões
teóricas e metodológicas da geografia cultural renovada. Ela propõe novos temas de
pesquisas como a análise dos significados do espaço, a música como comunicação
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
19:
cultural, as políticas culturais da música, as economias musicais e a música como
construção social das identidades. Em artigos posteriores, Kong (1996, 1997) explora a
construção das identidades locais e dos processos de transculturação em Singapura
através da música popular, expondo sua tese de que apesar de um mundo com tendências
globalizantes, as fronteiras não estão inteiramente apagadas. De fato [...] onde o
cruzamento de forças globais é mais forte, a afirmação do local é maior,
concomitantemente (1997, p.10).
Analisando atualmente alguns dos principais periódicos de geografia do mundo
anglófono, é possível visualizar um fértil panorama dos estudos da música em geografia,
com numerosos trabalhos – em muitos dos casos relacionados com a agenda que Kong
propusera – tais como Anderson, Morton & Revill (2005), Connel & Gibson (2004), Finn
(2009), Hogan (2007), Saldanha (2005) entre outros. Em geral nesses trabalhos, e
seguindo a tendência da geografia cultural anglófona, o binômio “space and place”
continua sendo o mais utilizado, verificando-se também uma forte influência dos estudos
culturais; nota-se igualmente um interesse centrado na cidade e suas redes de produção
musical, como em Watson (2008), Brandellero & Pfeffer (2011) e Florida & Jackson
(2009). Outras coletâneas importantes foram publicadas por Gibson & Connel (2003) e
Johansson & Bell (2012). Por fim, os verbetes de música nos dicionários de geografia,
como os de Gregory et al (2011) e Warf (2006), reconhecem os esforços empreendidos
desde a escola saueriana até a renovação da geografia cultural de língua inglesa.
Por sua vez, em língua francesa vemos uma retomada da temática a partir dos
anos 1990, depois de um longo hiato desde a discussão iniciada por Gironcourt. Jacques
Lévy (1994, 1999) inicialmente indaga sobre as possibilidades teóricas de diálogo entre
música e geografia e, posteriormente, analisa os processos sociais e econômicos que
contribuíram para a cena de vanguarda musical em Viena ao início do séc. XX, buscando
compreender a difusão dessa inovação musical pelo espaço europeu. Romagnan (2000),
logo após, advoga pela música como um novo campo de estudos para a geografia. O autor
não remonta o interesse até à época de Gironcourt, mas sim aos artigos seminais de Lévy
e à abordagem cultural de Paul Claval. Ele defende o diálogo da ciência geográfica com
a sociologia da música e a etnomusicologia, e insere a idéia da atividade musical como
um geo-indicador do território ao abordar temas como política cultural, música e espaço
público, sistemas de produção musical, uso dos lugares de práticas musicais e seus
significados, entre outros temas. Calenge (2002) direciona a discussão para uma
geografia econômica da cultura e redes da indústria cultural, tal como fazem muitos
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
20:
geógrafos anglófonos. Lamantia (2002) e Goré (2004), refletem sobre a questão
territorial, seja pelos efeitos territorializantes das músicas de ambiente, seja pela
construção territorial e identitária que música e dança tradicionais realizam. Na
sistematização desse campo de estudos, temos Guiu (2006), Raibaud (2008) como os
principais articuladores de organização de periódicos, colóquios e coletâneas de artigos.
Da mesma forma como na geografia anglófona, a música aparece como verbete em Lévy
e Lussault (2013), valorizando as pesquisas realizadas na França até o momento. O
interesse da geografia francesa pela música, embora recente, mostra-se bem organizado
e têm no território, em suas diversas abordagens, a sua principal categoria de análise
geográfica.
Ressalta-se que na temática da música, as geografias de língua inglesa e francesa
ainda não estabeleceram um diálogo mais amplo, como já observado por Guiu (2006) e
Canova (2013). Contudo, ambas foram aqui agrupadas por refletirem um conjunto bem
organizado de trabalhos, eventos e direcionamentos teóricos que sem dúvida se
apresentam como referências importantes na temática
Geografia e Música no Brasil: Um Campo Emergente
Completadas três décadas de pesquisa sobre música na Geografia brasileira,
acredito ser necessário realizar um novo balanço, ainda que breve e sujeito a revisões. Se
até a década passada o número de trabalhos se multiplicava, ainda não era possível
visualizar o início de sua institucionalização, que somente ocorreu neste último decênio.
As pesquisas realizadas até agora demonstram uma pluralidade de abordagens teóricas
que transcendem o próprio campo da geografia cultural. Em termos conceituais,
também, encontramos diversidade nas abordagens, ora focando-se na paisagem, ora no
lugar, ora no território. Serão expostos nesta seção os trabalhos contidos no Banco de
Teses e Dissertações da CAPES, artigos em periódicos, coletâneas específicas e grupos
de trabalho recentes.
Considera-se que João Baptista Ferreira de Mello tenha sido o precursor do tema
na geografia brasileira, com sua dissertação defendida na UFRJ em 1991. A partir de
autores como David Seamons, Antoine Bailly e Douglas Pocock, Mello (1991) se inspira
para interpretar a cidade do Rio de Janeiro sob a ótica de seus compositores, no período
de 1928 a 1991, trabalhando na perspectiva da canção como uma literatura musicada.
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
21:
Contudo, somente na década seguinte que a música passará a ser um interesse constante
e crescente na Geografia brasileira. Ao inaugurar o campo, Mello orienta teoricamente
a perspectiva da geografia humanista, voltada aos indivíduos, simbolismos e
subjetividades (Guimarães, 2007; Santos, 2009; Pizotti, 2010; Anjos, 2011). Nesta
abordagem temos o espaço vivido, a geograficidade e o lugar como conceitos centrais de
análise, e os temas mais tratados orbitam em torno da música popular, do samba e do
carnaval.
Além da geografia humanista, visualiza-se também um eixo de abordagens
sociais e culturais com uma pluralidade de enfoques. Na presente interpretação chamarei
de geografia cultural e social um largo campo de interesses e tratamentos teóricos mais
ou menos aproximados, que visualizam a música como um elemento que envolve
produção do espaço, uso do território, criação de identidades, territorialidades,
regionalidades e representações do espaço. Nesta, vemos análises ora mais ligadas às
geografias críticas, ora em direção à geografia cultural renovada de base francesa e
anglófona, ou ainda uma combinação de ambas. Os interesses são heterogêneos, porém
concentram-se sobretudo em quatro grandes temas a saber. 1) A música popular
(Almeida, 2002; Souza, 2011; Tamburo, 2014) e a diversidade dos gêneros regionais
brasileiros, como forró (Fernandes, 2001), o maracatu (Santana, 2006), o movimento
manguebit (Picchi, 2011), a música caipira (Malaquias, 2019), o fandango paranaense
(Torres, 2009), a música missioneira (Barbosa, 2015) entre outros. 2) As cenas e circuitos
musicais (Alves, 2014; Diniz, 2015; Panitz, 2017; Stoll, 2018), produtores de redes, fixos
e fluxos. 3) O samba e o carnaval (Ferreira, 2002; Dozena, 2009) e suas práticas
territorializantes nas metrópoles brasileiras. 4) O rap e o movimento hip hop (Xavier,
2005; Oliveira, 2006; Gomes, 2012) produzindo territórios, representações e
sociabilidades nos espaços periféricos. Estes quatro temas, conforme o Gráfico 1,
perfazem dois terços do total de trabalhos. Além desses, se visualizam pesquisas sobre
festivais e eventos musicais, música erudita, música indígena, música no ensino de
Geografia e paisagem sonora. Estes são apenas alguns exemplos dentre os mais de
setenta trabalhos encontrados até agora.
Com relação aos centros produtores destas pesquisas, vemos uma grande
concentração de trabalhos nos programas de pós-graduação em geografia da região
sudeste e sul, com destaque aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio
Grande do Sul, conforme o Gráfico 2. Nota-se, contudo, principalmente nos últimos anos
um aumento considerável de pesquisas nas universidades do centro-oeste, norte e
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
22:
nordeste. Esse espalhamento por todas as regiões brasileiras tem contribuído não só para
o alargamento das abordagens teóricas, como também dos gêneros musicais abordados.
Gráfico 1: Temáticas de pesquisa e respectivo percentual.
Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2021. Elaboração: Lucas Panitz.
Gráfico 2: Teses e dissertações defendidas nos PPG's de Geografia.
Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2021. Elaboração: Lucas Panitz.
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
23:
Com relação às publicações, comentarei alguns artigos que julgo importante,
além daquelas que evidenciam a consolidação da geografia da música como um campo de
interesse, principalmente nas coletâneas de artigos e números especiais de revistas.
Evangelista (2005) é quem aparece com o primeiro livro publicado sobre o tema, contudo
parece ter tido pouco alcance. As coletâneas de geografia cultural editadas por Corrêa e
Rosendahl (2007, 2008, 2009) foram aquelas que trouxeram para o público brasileiro
importantes traduções e discussões teóricas de relevo. Mais recente, a primeira coletânea
dedicada exclusivamente ao tema (Dozena, 2016), teve largo impacto na comunidade
acadêmica, seja pelo alcance de sua distribuição, seja pela quantidade de artigos de
diferentes regiões e abordagens teóricas. Além disso, o livro inicia com a versão bilíngue
de um importante texto do geógrafo francês Dominique Crozat. Por fim, na relação luso-
brasileira, é emblemático o recente livro organizado por Azevedo et al (2021), focando
não só na música, mas também no som e no silêncio. A publicação é fruto não só de
pesquisadores de geografia e música, mas de uma rede de geografia cultural que vem se
consolidando nos últimos anos entre Brasil e Portugal, com parcerias de publicações e
convênios de pesquisa bi-nacionais.
Além disso, os dossiês sobre a temática em periódicos nacionais têm buscado
mapear e congregar as pesquisas feitas no país. Dorfman, Heidrich e Panitz (2012),
organizaram um número da revista Para Onde?! dedicado às geografias da literatura e
da música, a partir de um colóquio realizado no mesmo ano. Dozena (2018) apresenta
outro dossiê, na revista Geograficidades, abordando a música e inserindo a temática dos
sons. Da mesma forma fazem Lamego e Reyes (2019) no periódico Espaço e Cultura,
pioneiro em publicações sobre a temática.
Outro importante indicativo de institucionalização dos estudos na área é o Grupo
de Trabalho Geografia, Música e Sons, em atividade desde 2017 nos encontros bienais
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Geografia. Com três
encontros já realizados, dezenas de trabalhos de mestrado e doutorado puderam ser
colocados em diálogo e redes de pesquisadoras/es vem paulatinamente se formando
neste âmbito acadêmico. Da mesma forma, o Prêmio CAPES de Teses 2018 (categoria
Geografia) que contemplou recente trabalho na área da geografia da música é um
indicativo de que a temática vem se consolidando e ganhando espaço na geografia
brasileira. Chamamos a atenção, ainda, para o surgimento de pelo menos dois
audiovisuais de música com participação ou autoria de geógrafas/os: o filme A Linha
Fria do Horizonte (2014), que discorre longamente sobre a relação entre a canção
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
24:
popular, o espaço e a paisagem, na fronteira Argentina - Brasil - Uruguai, além do
recente documentário de Julia Andrade (PRIMEIRAS, 2021) sobre a geografia do choro
na cidade do Rio de Janeiro. Tais trabalhos mostram uma rica linha de atuação e/ou
colaboração da geografia - o audiovisual geomusical, que pode vir a se somar com os
diversos documentários etnomusicológicos produzidos no país.
Geografia da Música: Algumas Considerações
Nos países anglófonos, a geografia da música pode ser entendida por dois
momentos distintos: a abordagem difusionista da escola saueriana e a renovação crítica,
inspirada nos estudos culturais. Na França, por outro lado, mantém-se o olhar sobre o
território: a música é um elemento para compreender a identidade territorial, as políticas
culturais e as territorializações permanentes ou efêmeras.
No Brasil, contudo, o que se vê é uma pluralidade de abordagens teóricas,
interesses e tratamentos metodológicos. Os trabalhos realizados nos últimos trinta anos
têm valorizado sobremaneira a diversidade musical do país e suas relações com as
identidades geográficas/espaciais, a produção de símbolos e territorialidades,
representações dos espaços, poéticas geográficas e dinâmicas do espaço urbano. Se
visualizam ao menos três abordagens (ainda que esta enumeração seja apenas expositiva,
pois na prática há nuances entre as mesmas). Em um primeiro momento temos a
contribuição da geografia humanista, valendo-se largamente da dimensão simbólica do
espaço. Em segundo, podemos agrupar abordagens culturais e sociais as quais mantém
a tradição crítica da geografia brasileira nas últimas décadas, utilizando referenciais
teóricos da sociologia, antropologia, história cultural e estudos culturais; nestas,
utilizam-se não só as letras das canções, mas também se valoriza a perspectiva do som,
das práticas musicais, das materialidades, e das redes, circuitos e cenas. Por fim, as
abordagens voltadas ao ensino de geografia, tem fornecido elementos para a construção
de conceitos geográficos e compreensão das sociabilidades no espaço escolar.
Notamos também a concentração dos trabalhos nas regiões sul e sudeste, que
evidenciam as disparidades regionais que se perpetuam em outras áreas da geografia e
do conhecimento acadêmico. Contudo, o número de trabalhos do centro-oeste, norte e
nordeste, na última década, pode indicar uma nova tendência. As disparidades não são
apenas regionais, mas também de gênero. As mulheres respondem apenas por um terço
das teses e dissertações defendidas. De igual forma, parece haver pouco interesse, até o
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
25:
momento, por gêneros populares massificados, como o funk, o sertanejo, o pagode, entre
outros. São temas fecundos que permanecem em aberto e cujas análises podem contribuir
para o alargamento do conhecimento da realidade territorial do Brasil.
Os trabalhos realizados, contudo, demonstram uma consolidação inequívoca da
geografia da música como área temática de estudo na geografia brasileira. Parece haver,
entretanto, um espaço a ser ocupado pelas geógrafas/os na esfera pública sobre música
e sociedade, sendo necessário um maior esforço do campo no sentido de divulgação dos
trabalhos para além do âmbito acadêmico e a produção de obras literárias, fonográficas
e audiovisuais voltadas para um público mais amplo e não-especializado, como já têm
feito a história, a sociologia e a antropologia.
Levando em conta o conjunto do conhecimento produzido até agora, a geografia
tem mostrado uma relevante contribuição no debate sobre a música, seja analisando e
compreendendo a sociedade e seu território por meio dos discursos e práticas musicais,
seja no desvelamento das formas com que a música se investe no espaço, produzindo
geografias concretas e imaginárias, sociabilidades, resistências, cenas e identidades
sociais de base espacial. A vitalidade dos estudos sobre música na geografia parece
revelar algo ainda pouco discutido nos estudos sobre música das outras ciências humanas
e sociais: o espaço geográfico enquanto instância social não é mero repositório de ações
humanas, mas um conjunto de ações e objetos (Santos, 2009) que operam
indissociadamente, produzindo materialidades e ideias que agem sobre os corpos, a
música, a cultura, a sociedade e o próprio espaço.
Agradecimentos
Meu sincero obrigado a todas/os que proporcionaram a conclusão deste artigo, os debates e as
colaborações ao longo dos últimos anos. Julia Andrade, André Novaes e Mariana Lamego
(UERJ). Ana Angelita da Rocha e Ênio Serra (UFRJ), Alessandro Dozena (UFRN), Cristiano
Alves (UEMA), Marcos Torres (UFPR), Anita Loureiro e Adriana Silva (UFRRJ) e demais
colegas do NUREG/UFF. Um agradecimento especial para Álvaro Heidrich (UFRGS) e Yves
Raibaud (Université Bordeaux). A conclusão deste artigo foi possível graças à bolsa de pós-
doutorado do Prêmio CAPES de Teses 2018, realizada sob a supervisão generosa e interessada
de Rogério Haesbaert no PPGGEO da Universidade Federal Fluminense, a quem agradeço
enormemente. Também à Louis Dupont, pela acolhida para um séjour de pesquisa e trabalhos de
campo no âmbito do laboratório Espace, Nature et Cultures da Université Paris-Sorbonne. Por
fim, dedico este artigo à memória de dois grandes geógrafos, colegas e amigos da UERJ, partidos
precocemente: Gilmar Mascarenhas de Jesus e João Baptista Ferreira de Mello, que deixam um
grande legado nos estudos sobre a música, as cidades e o esporte.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
26:
ANDRADE, Julia. 2001 Território e Cultura: uma problemática para a política dos
Incentivos Fiscais e o Marketing Cultural. Dissertação de Mestrado defendido no
Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo sob orientação da Profa. Dra Maria Adélia Aparecida de Souza.
ANDRADE, Julia 2019 Seguindo as pegadas do Animal: o choro através do livro de Alexandre
Gonçalves Pinto. Anais do SIGEOLITERARTE 2019
https://redeentremeio.com.br/assets/system-data/artigos-
publicos/2ccf478e400d40378f914ab8f14c1248.pdf
RAGÃO, Pedro O baú do Animal: Alexandre Gonçalves Pinto e o Choro – Rio de Janeiro:
Folha Seca, 2013.
AUTRAN, Margarida. “Renascimento” e descaracterização do choro In: Anos 70: ainda sob a
tempestade. NOVAES, Adalto (org). – Rio de Janeiro: Aeroplano: Editora SENAC Rio, 2005
AZEVEDO, Ana Francisca Geografia e Música: a tocadora da roda de Giacometti In
AZEVEDO, FURLANETTO e DUARTE (org) Geografias Culturais da Música. Guimarães,
Portugal, 2018
CARNEY, George. Musica e Lugar. In Literatura, música e espaço CORREA e
ROSENDAHL (org) – Rio de Janeiro; Ed Uerj, 2007
CARRILHO, M e CARVALHO, Anna Paes Enciclopédia Ilustrada do Choro no século XIX.
Mimeo s.n 2005.
COSTA, Pablo e DOZENA, Alessandro. Espaços do choro em Natal – RN: um olhar
geográfico. Revista Espacialidades (on line), 2012, v.5, n.4 ISSN 1984-817x
CROZAT, Dominique Jogos e Ambiguidades da construção musical das identidades espaciais.
In DOZENA, Alessandro (org.) Geografia e Música: diálogos Natal: EDUFRN, 2019
DOZENA, Alessandro (org.) Geografia e Música: diálogos Natal: EDUFRN, 2019
NEVES, Margarida de Souza. Brasil, acertais vossos ponteiros. Rio de Janeiro. Museu de
Astronomia, 1991.
PANITZ, Lucas. Práticas Musicais, representações e transterritorialidades em rede entre
Argentina, Brasil e Uruguai IN DOZENA, Alessandro (org) Geografia e Música: diálogos
Natal: EDUFRN, 2019
PINTO, Alexandre Gonçalves. O Choro: reminiscências dos chorões antigos. Edição
comentada. Rio de Janeiro: Acari Records, 2014.
RODRIGUES, Antônio Edmilson. “Em algum lugar do passado: cultura e história na cidade do
Rio de Janeiro”. In: AZEVEDO, André Nunes de. Rio de Janeiro: capita; e capitalidade Rio
de Janeiro: Departamento Cultural/UERJ, 2002.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. – São Paulo, Rio de Janeiro: Editora Record, 2000
SANTOS, Milton Por uma geografia cidadã: Por uma epistemologia da Existência In
Boletim Gaúcho de Geografia, 21 agosto de 1996.
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
27:
SILVA, Mauro Osório da; VERSIANI, Maria Helena. História da Capitalidade do Rio de
Janeiro, Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, Rio de Janeiro, n 7. 2015
TINHORÃO, José Ramos Cultura Popular: temas e questões. - São Paulo: Ed 34, 2001.
TINHORÃO, José Ramos História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Ed 34,
1990.
VASCONCELOS, Ary Carinhoso etc: história e inventário do choro. Editora do autor, 1984
ESPAÇO E CULTURA, UERJ, RJ, JUN./DEZ DE 2021, N. 50, P. 13–27.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
También podría gustarte
- El fandango y sus variantes: III Coloquio música de GuerreroDe EverandEl fandango y sus variantes: III Coloquio música de GuerreroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ingles 2 Unidad 1-4Documento66 páginasIngles 2 Unidad 1-4Elling BejaranoAún no hay calificaciones
- Historia de La Musicología en MéxicoDocumento8 páginasHistoria de La Musicología en MéxicoManuel100% (1)
- Marita Fornaro: "Sobre Intelectuales"Documento19 páginasMarita Fornaro: "Sobre Intelectuales"DinadieAún no hay calificaciones
- RadiologyDocumento230 páginasRadiologyIVANNA CASTRO SOSAAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica de T-Shirt PDFDocumento16 páginasFicha Tecnica de T-Shirt PDFSilvia Victoria Linares Escalante100% (2)
- La Historia de La Musica en Colombia Act PDFDocumento15 páginasLa Historia de La Musica en Colombia Act PDFJorge VelezAún no hay calificaciones
- La Música Como CulturaDocumento7 páginasLa Música Como CulturaMarianela SiboldiAún no hay calificaciones
- 9501 37577 1 PB PDFDocumento17 páginas9501 37577 1 PB PDFMariaDeJesúsChalcoAraníbarAún no hay calificaciones
- Pérez - Juliana - Las Historias de La Música en Hispanoamérica.Documento7 páginasPérez - Juliana - Las Historias de La Música en Hispanoamérica.jiguesAún no hay calificaciones
- La Etnomusicología y Su Recorrido HistóricoDocumento3 páginasLa Etnomusicología y Su Recorrido HistóricoSub Dirección de Posgrado Estudios AvanzadosAún no hay calificaciones
- Historia de La Musica PopularDocumento12 páginasHistoria de La Musica PopularMak RestuAún no hay calificaciones
- La Etnomusicología y El Noreste de México PDFDocumento17 páginasLa Etnomusicología y El Noreste de México PDFGracia LlorcaAún no hay calificaciones
- Etnomusicología IDocumento228 páginasEtnomusicología Ialexantonjazz100% (1)
- La Etnomusicología de Las Tierras Bajas de América Del SurDocumento18 páginasLa Etnomusicología de Las Tierras Bajas de América Del SurEdgar PouAún no hay calificaciones
- La Musica de Hispanoamerica en El PeriodDocumento6 páginasLa Musica de Hispanoamerica en El PeriodJuan Sebastian VargasAún no hay calificaciones
- Jiménez 2009 - Arqueología Musical y EtnomusicologíaDocumento19 páginasJiménez 2009 - Arqueología Musical y EtnomusicologíaJAIME ANDRES RUIZ GARCIAAún no hay calificaciones
- Los Estudios de Postgrado La Expansión de La Musicología: Juan Pablo GonzálezDocumento6 páginasLos Estudios de Postgrado La Expansión de La Musicología: Juan Pablo GonzálezGonzalo ManzoAún no hay calificaciones
- Autores e Interpretes Musicales Antes o Despues de La ColoniaDocumento10 páginasAutores e Interpretes Musicales Antes o Despues de La ColoniaAndreaFloresSagardiaAún no hay calificaciones
- Programa Congreso Sedem Resumenes3484 PDFDocumento125 páginasPrograma Congreso Sedem Resumenes3484 PDFsantimusicAún no hay calificaciones
- Santa FeDocumento55 páginasSanta FeSantiago Beltran SanchezAún no hay calificaciones
- Pérez González, Juliana, Las Historias de La Música en Hispanoamérica (1876-2000), Bogotá, UNC, 2010, Pp. 168.Documento7 páginasPérez González, Juliana, Las Historias de La Música en Hispanoamérica (1876-2000), Bogotá, UNC, 2010, Pp. 168.María Flaviana MorenoAún no hay calificaciones
- Rastreando Sombras en El CampoDocumento21 páginasRastreando Sombras en El CampoIntegrante Trece100% (1)
- Resumen EncuentroDocumento37 páginasResumen EncuentroNelson Eduardo CrialesAún no hay calificaciones
- Sonidos Andinos PUCP-páginas-13-72 PDFDocumento60 páginasSonidos Andinos PUCP-páginas-13-72 PDFFernando Salazar BozaAún no hay calificaciones
- Etnografias Del Encuentro Saberes y RelaDocumento153 páginasEtnografias Del Encuentro Saberes y RelaKablajuj KemeAún no hay calificaciones
- Reflexiones en Torno A La Historia de La Etnomusicología en EspañaDocumento45 páginasReflexiones en Torno A La Historia de La Etnomusicología en EspañaAlbertoAún no hay calificaciones
- Estudios de Mus Colonial AmericanaDocumento41 páginasEstudios de Mus Colonial Americanalionforcenike95Aún no hay calificaciones
- Etnomusicologia AfricanistaDocumento6 páginasEtnomusicologia AfricanistaAna Cespedes AlfaroAún no hay calificaciones
- 3759-Texto Del Artículo-14029-1-10-20180214Documento15 páginas3759-Texto Del Artículo-14029-1-10-20180214nicolasAún no hay calificaciones
- Historia de La Musica vs. Historia de Los MusicosDocumento2 páginasHistoria de La Musica vs. Historia de Los MusicosJosue BenitezAún no hay calificaciones
- Del Juju Al Uauco Un Estudio Arqueomusic PDFDocumento4 páginasDel Juju Al Uauco Un Estudio Arqueomusic PDFChristian NoriegaAún no hay calificaciones
- Capitulo1 - Etno MusDocumento10 páginasCapitulo1 - Etno MusRichard CanteroAún no hay calificaciones
- Génesis de Los Estudios Sobre Música Colonial HispanoamericanaDocumento42 páginasGénesis de Los Estudios Sobre Música Colonial HispanoamericanaManuelAún no hay calificaciones
- La Unesco y La Historia de La Música PDFDocumento7 páginasLa Unesco y La Historia de La Música PDFRudyard VargasAún no hay calificaciones
- MyersDocumento15 páginasMyersRodrigo Flores Mdz100% (1)
- El Bambuco y Los Saberes MestizosDocumento22 páginasEl Bambuco y Los Saberes MestizosScvVzvAún no hay calificaciones
- Alvarez1997 - Iconografia Musical y OrganologiaDocumento17 páginasAlvarez1997 - Iconografia Musical y OrganologiafernandoeliasllanosAún no hay calificaciones
- BerraDocumento2 páginasBerraPiu PiuAún no hay calificaciones
- Reseña Rice Timothy EtnomusicologíaDocumento5 páginasReseña Rice Timothy EtnomusicologíaMiguel Bonilla MartinezAún no hay calificaciones
- 1b. MAB - Rice, A Very Short-1Documento3 páginas1b. MAB - Rice, A Very Short-1PabloAún no hay calificaciones
- Lectura 4 U 2 Analisis y Hermeneutica Guzman NaranjoDocumento6 páginasLectura 4 U 2 Analisis y Hermeneutica Guzman NaranjoJulián Castro-CifuentesAún no hay calificaciones
- Relacion Musica Ciencia y Tecnologia Siglo 20Documento10 páginasRelacion Musica Ciencia y Tecnologia Siglo 20Elo YlavidaAún no hay calificaciones
- Didáctica para El Desarrollo de La Inteligencia MusicalDocumento87 páginasDidáctica para El Desarrollo de La Inteligencia MusicalJefferson RiosAún no hay calificaciones
- GonzDocumento30 páginasGonzjazmin100% (1)
- Resena Del Libro Pego El Grito en CualquDocumento4 páginasResena Del Libro Pego El Grito en Cualqudayenus1Aún no hay calificaciones
- Introducción A La Etnomusicología - Diferencia Entre La Escuela Berlinesa y NorteamericanaDocumento5 páginasIntroducción A La Etnomusicología - Diferencia Entre La Escuela Berlinesa y Norteamericanavotingpine100% (2)
- Sobre La Historicidad de La Musica AfricanaDocumento19 páginasSobre La Historicidad de La Musica AfricanaMati CassanoAún no hay calificaciones
- Musica Latinoamericana y ArgentiaDocumento9 páginasMusica Latinoamericana y ArgentiaIan Ocampos GaléAún no hay calificaciones
- Dunan, Fernando Gabriel (2017) - La Musica Popular Como Recurso para La Ensenanza y La Discusion de La Historia Contemporanea de Argentina (..)Documento26 páginasDunan, Fernando Gabriel (2017) - La Musica Popular Como Recurso para La Ensenanza y La Discusion de La Historia Contemporanea de Argentina (..)Rosa CabalAún no hay calificaciones
- La Música en La Ciudad de México, Siglos XVI-XVIII: Una Mirada A Los Procesos Culturales ColonialesDocumento611 páginasLa Música en La Ciudad de México, Siglos XVI-XVIII: Una Mirada A Los Procesos Culturales ColonialesJulio199045100% (8)
- Marti - Etnomusicologia. Las Culturas Musicales Como Objeto de Estudio PDFDocumento15 páginasMarti - Etnomusicologia. Las Culturas Musicales Como Objeto de Estudio PDFJuan Fernando PocoriAún no hay calificaciones
- JMarti-1996-Etnomusicologia. Las Culturas Musicales Como Objeto de Estudio PDFDocumento15 páginasJMarti-1996-Etnomusicologia. Las Culturas Musicales Como Objeto de Estudio PDFzombAún no hay calificaciones
- ETnomusicologia EspañaDocumento45 páginasETnomusicologia EspañaToni Salvador ClimentAún no hay calificaciones
- MusicologíaDocumento3 páginasMusicologíaDaniel Dinamarca C.Aún no hay calificaciones
- 12revista NúmeroDocumento58 páginas12revista NúmeroChinoAún no hay calificaciones
- Etnomusicología Capitulo1Documento22 páginasEtnomusicología Capitulo1Stivel AlvarezAún no hay calificaciones
- Fandango de Artesa de La Costa ChicaDocumento22 páginasFandango de Artesa de La Costa ChicaLuis B VelascoAún no hay calificaciones
- Diego Madoery. Estudios Sobre El Folclore Musical Argentino PDFDocumento24 páginasDiego Madoery. Estudios Sobre El Folclore Musical Argentino PDFAmy Lilén Kees UríaAún no hay calificaciones
- Estudios Sobre El Folklore Musical ArgentinoDocumento24 páginasEstudios Sobre El Folklore Musical ArgentinoHugo100% (2)
- Hacia Una Deficnición Del Concepto MusicologíaDocumento18 páginasHacia Una Deficnición Del Concepto MusicologíaKaren FloresAún no hay calificaciones
- Guillermo Manuel Eduardo Tomás Bouffartigue: Un músico en pro de la cultura patriaDe EverandGuillermo Manuel Eduardo Tomás Bouffartigue: Un músico en pro de la cultura patriaAún no hay calificaciones
- Pasados presentes: Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)De EverandPasados presentes: Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)Aún no hay calificaciones
- El Bar - CasoDocumento2 páginasEl Bar - CasoSaul MarecosAún no hay calificaciones
- DANZADocumento3 páginasDANZAAlipio CPAún no hay calificaciones
- Discografía de Los SprintersDocumento2 páginasDiscografía de Los Sprintersinfofelipop5060Aún no hay calificaciones
- Analisis Edipo Rey - 5Documento5 páginasAnalisis Edipo Rey - 5Eddy MegaAún no hay calificaciones
- Tesis de Daniel GuevaraDocumento111 páginasTesis de Daniel Guevarasosaheriberto20018404Aún no hay calificaciones
- Mis Gustos y Preferencias 5 AñosDocumento1 páginaMis Gustos y Preferencias 5 AñosLilianaAún no hay calificaciones
- Exportacion SCDocumento90 páginasExportacion SCALEX VLADIMIRAún no hay calificaciones
- Curros Vazquez Adelardo - El Manojo de Claveles Boceto de Sainete Andaluz en Un Acto Dividido en Tres Cuadros Y en Verso OriginalDocumento46 páginasCurros Vazquez Adelardo - El Manojo de Claveles Boceto de Sainete Andaluz en Un Acto Dividido en Tres Cuadros Y en Verso OriginalcnsiriwardanaAún no hay calificaciones
- Tesis Capoeira Version VERSION FINAL 10.20Documento133 páginasTesis Capoeira Version VERSION FINAL 10.20Patricia Alvarez SaavedraAún no hay calificaciones
- Sonido en AudiovisualesDocumento22 páginasSonido en AudiovisualesAdra Geocaching100% (1)
- EL REGISTRO SONORO - HistoriaDocumento6 páginasEL REGISTRO SONORO - HistoriaDaniBenavidezAún no hay calificaciones
- Chap PresskitDocumento10 páginasChap PresskitChapOchoaAún no hay calificaciones
- ESTUDIO ESCALA MAYOR v1.26320 PDFDocumento5 páginasESTUDIO ESCALA MAYOR v1.26320 PDFJuan Pablo Cañon VelasquezAún no hay calificaciones
- Programa Percusion Ciclo Elemental 2021Documento5 páginasPrograma Percusion Ciclo Elemental 2021catalinamisjuegosAún no hay calificaciones
- Definicion Sikuri PDFDocumento1 páginaDefinicion Sikuri PDFRolan A. CQAún no hay calificaciones
- Ives - Ensayos Ante Una SonataDocumento22 páginasIves - Ensayos Ante Una SonataMariló Soto MartínezAún no hay calificaciones
- Saxofon TenorDocumento1 páginaSaxofon TenorJhon MyAún no hay calificaciones
- Consejos A Los Jovenes Estudiantes de MusicaDocumento6 páginasConsejos A Los Jovenes Estudiantes de MusicaMartina GalliAún no hay calificaciones
- HauntologiaDocumento3 páginasHauntologiaGustavo MartinAún no hay calificaciones
- Canciones ClásicasDocumento1 páginaCanciones ClásicasLucas SakAún no hay calificaciones
- Una Introducción Al Ensayo de Antropología Sobre La Influencia de La Música en La Formación de La Identidad ChilenaDocumento2 páginasUna Introducción Al Ensayo de Antropología Sobre La Influencia de La Música en La Formación de La Identidad ChilenaPaolo OlivaAún no hay calificaciones
- Walt DisneyDocumento7 páginasWalt DisneyJaime García Vega-LealAún no hay calificaciones
- Dokumen - Tips 3er Examen Cepre UntecsDocumento22 páginasDokumen - Tips 3er Examen Cepre UntecsPe Dro Garrido OlayaAún no hay calificaciones
- PianoDocumento7 páginasPianoJesus Park AmarantoAún no hay calificaciones
- Garcia TallerHanselGretelDocumento6 páginasGarcia TallerHanselGretelBerny Du PontAún no hay calificaciones
- Morenas de Veracruz. Fisuras de Género y Nación Vistas Desde La TarimaDocumento85 páginasMorenas de Veracruz. Fisuras de Género y Nación Vistas Desde La TarimaGloria Godínez100% (2)
- La Estrategia Cali Y El Dandee Letra y Acordes by MUSICTUTORIALSDocumento4 páginasLa Estrategia Cali Y El Dandee Letra y Acordes by MUSICTUTORIALSMila Tamayo0% (1)