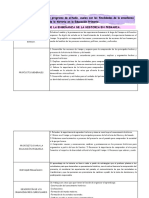Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ética Concluido
Ética Concluido
Cargado por
Danielle0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas7 páginasResumo ética psico
Título original
ética concluido
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoResumo ética psico
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas7 páginasÉtica Concluido
Ética Concluido
Cargado por
DanielleResumo ética psico
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
Direitos Humanos e a Prática da Avaliação
Elaborar uma discussão sobre as influências da psicologia em
detrimento dos direitos humanos e vice-versa é uma tarefa árdua. Assim,
estaremos desmembrando e conceituando ambas as partes separadamente
para melhor compreensão. Sendo assim, é de suma importância analisarmos o
contexto no qual a psicologia veio a surgir no Brasil.
À psicologia como categoria profissional, foi regulamentada em 1962,
período histórico que precedeu no país a instalação do golpe militar, regime
ditatorial que suprimiu a democracia durante 21 anos (1964 a 1985). Tendo
como um dos principais objetivos, na época, à adaptação e ajustamento do
indivíduo (Rosato, 2011).
O profissional de psicologia tinha como função a produção de perfis
psicológicos, realizando diagnósticos, para posteriormente promover a
adequação dos indivíduos em seus respectivos contextos, ou seja, promover
solução de problemas de ajustamento. Nesta época, os locais de atuação
estavam prioritariamente circunscritos ao ambiente escolar, às indústrias,
direcionado para processos de seleção e recrutamento de pessoal, e
atendimento psicoterapêutico individual em consultório (Rosato, 2011).
Bock (2001) descreve o trabalho da psicologia como:
“Psicólogo: estuda o comportamento e mecanismo mental dos
seres humanos, realiza pesquisas sobre os problemas
psicológicos que se colocam no terreno da medicina, da
educação e da indústria e recomenda o tratamento adequado:
a) projeta e realiza experimentos e estudos em seres humanos
para determinar suas características mentais e físicas;
b) analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e
outros mais na configuração mental e comportamento dos
indivíduos;
c) faz diagnósticos, tratamentos e prevenção de transtornos
emocionais e da personalidade, assim como dos problemas de
inadaptação ao meio social e de trabalho;
d) cria e aplica testes psicológicos para determinar a
inteligência, faculdade, aptidões, atitudes e outras
características pessoais, interpreta os dados obtidos e faz as
recomendações pertinentes (p. 26-27)”.
Neste mesmo período (década de 1960), em consonância com o que
ocorria no país, emergiu-se sujeitos sociais que se apresentavam como
minorias reivindicando suas diferenças em relação a padrões sociais
hegemônicos de normalidade. Criando movimentos de reivindicação de direitos
sem que isto implicasse tutela médica ou jurídica e desqualificação social
(Arantes, 2003).
Essa militância minoritária foi se organizando em movimentos sociais e
comunitários, em associações, cooperativas e em ONGs diversas. Ao final da
década 1980, há toda uma mobilização em torno dos direitos de cidadania
desses grupos, logrando-se grandes avanços na Constituição Federal de 1988
(Arantes, 2003).
A partir da (re) democratização do país, o campo psicológico se ampliou
e houve uma ruptura com o que inicialmente foi a proposta da profissão. Já não
era mais possível manter uma Psicologia individualizante, descontextualizada e
a-histórica. Assim, a nova psicologia torna-se uma rede complexa de saberes
que podem ser convergentes ou não (Rosato, 2011).
Dentro dessa pluralidade que envolve teoria e prática em Psicologia, é
de grande interesse a discussão sobre os diversos saberes produzidos
atualmente, devendo ser compreendidos seus usos e efeitos enquanto um
instrumento de poder. Isso significa que a instrumentalização que pode ser feita
com esses saberes/poderes tem efeitos na sociedade como um todo,
pressupondo-se que a intervenção psicológica é uma ação política (Rosato,
2011).
Para tanto, torna-se fundamental ter como princípio que todo e
qualquer conhecimento deve sempre ser contextualizado de acordo com sua
realidade social, já que inexiste indivíduo ou grupo separado de uma
sociedade.
Pensando em acontecimentos que levaram a constituição dos direitos
humanos, no Brasil com o marco a ditadura militar, e, no mundo a Segunda
Guerra Mundial, onde o massacre de aproximadamente 50 milhões de pessoas
foi o embrião, no Ocidente, do que se convencionou a chama de Direitos
Humanos.
Em 1945 criou-se a mais importante organização internacional – Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) – com o objetivo de proteção aos Direitos
Humanos, assim como manutenção da paz e da segurança em âmbito mundial.
Nesta conjuntura de construção de dispositivos normativos para proteção
internacional dos direitos, adota-se a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH) em 1948.
A concepção contemporânea de Direitos Humanos possui a perspectiva
principal de universalidade, indivisibilidade e interdependência destes direitos.
A primeira característica que diz respeito aos direitos dirigidos universalmente
para todas as pessoas, refere-se à condição de ser humano para ser titular
destes direitos. A segunda característica sinaliza para a indivisibilidade dos
Direitos Humanos, partindo do pressuposto de inter-relação e interdependência
destes direitos. Não basta que os direitos civis e políticos estejam garantidos,
faz-se necessário observar também os direitos sociais, econômicos e culturais
(DHESCs); se um direito é violado, os demais também o são.
Os Direitos Humanos não estão imunes ao contexto sociopolítico da sua
época e também são instrumentalizados de acordo com determinados
interesses, como também ocorreu com a Psicologia.
Percebe-se que os Direitos Humanos funcionam, na atualidade, como
uma espécie de termômetro que indica o grau de civilidade de uma sociedade.
Neste contexto, se elege a dignidade humana como o eixo fundamentado
mesmo, tornando possível pensar nessa meta também para a psicologia, na
medida que está trabalha para o desenvolvimento e a melhoria do ser humano
e suas condições de vida nas mais diversas esferas. A constatação de que
ambos os campos buscam, direta ou indiretamente, a dignidade humana
reforça a similaridade entre a Psicologia e os Direitos Humanos (Rosato, 2011).
A prática profissional da Psicologia tem relação direta com a construção
dos Direitos Humanos. Uma intervenção psicológica pode contribuir para
construir ou não os Direitos Humanos de uma determinada sociedade.
Em relação ao fazer profissional do psicólogo, pode-se questionar o
predomínio ou a ênfase nas atividades avaliativas como laudos, pareceres,
relatórios e diagnósticos, embora, do ponto de vista da regulamentação da
profissão e do ponto de vista da multiplicidade das abordagens em Psicologia,
nada há que desautorize, isoladamente, tais atividades. No entanto, há que se
observar que facilmente as avaliações tendem para a produção ou reprodução
de rótulos, tão ou mais cruéis quanto estigmatizadores e totalizantes (Arantes,
2003).
Conforme Arantes (2003) é importante que o psicólogo tenha clareza
quanto ao caráter problemático dessas categorias, advindas na maioria das
vezes do jargão médico-jurídico-policial e pensadas duplamente como crime e
como doença.
Segundo o mesmo autor, foi constatado um aumento nas categorias
diagnosticas dos principais sistemas classificatórios usados internacionalmente
em Psiquiatria e saúde mental, mostrando que tal crescimento tem sido feito a
partir da patologização do normal. Ou seja, condutas e comportamentos que
até então eram consideradas inclusas dentro do padrão normal de existência,
passaram a ser concebidas como anormais, de ordem disfuncional ou de
transtornos nos quais merecem algum tipo de intervenção terapêutica, na
grande maioria, farmacológica.
Estudos como de Patto (1997) demonstra o crescente números de
alunos que são encaminhados para avaliação psicológica, apresentando baixos
rendimentos e comportamentos irregulares (inadequados) que não atendem as
expectativas de professores, administradores e técnicos escolares. Mediante a
esse encaminhamento é possível identificar, em seus laudos de avaliação
psicológica, as dificuldades e até mesmo distúrbios mentais, porém esse
resultado é influenciado pelas diferentes classes sociais. Sendo assim,
crianças da média e da alta burguesia, os procedimentos diagnósticos levarão
a psicoterapias, terapias pedagógicas e orientação de pais que visam a adaptá-
las a uma escola que realiza os seus interesses de classe; no caso de crianças
das classes subalternas, ela termina com um laudo que, mais cedo ou mais
tarde, justificará a exclusão da escola.
“Os testes se transformam em artimanha, do poder, que
prepara uma armadilha para a criança, que acaba vítima de um
resultado que não passa de um artefato da própria natureza do
instrumento e de sua aplicação, situação tanto mais verdadeira
quanto mais o examinador for criança pobre e portadora de
uma história de fracasso escolar produzido pela escola” (Patto,
1997, p. 51).
Os psicólogos também se posicionam dessa maneira, porém de forma
sútil e científica. Os laudos indicam os altos níveis de repetências e exclusão
dos alunos de escolas públicas com o comportamento de rebeldia ou portador
de alguma anormalidade, porém, há referência à pobreza e ao meio social que
reduzem o olhar do profissional em avaliar o indivíduo de forma integral
(Patto,1997).
A crítica realizada pelo autor é referente aos diferentes níveis de
profundidade, como:
Os conteúdos, para avaliar o nível intelectual os psicólogos fazem
perguntas cujas respostas, para serem avaliadas como corretas, requerem do
avaliando uma visão ideológica de mundo.
A definição de inteligência e de personalidade contido nos testes de
QI. A crítica vem sobretudo dos Piagetianos, que destacam o fato de que esses
testes medem produtos de processos mentais, ignorando o processo de
produção da resposta, mais importante na determinação do estágio de
desenvolvimento intelectual (e não de uma capacidade intelectual estática) do
que o resultado alcançado.
O critério estatístico e adaptativo de normalidade que lhes serve de
base. A situação de testagem, podendo ser destacados dois problemas: a
falta de clareza a respeito das “regras do jogo” presentes em situações de
exame psicológico e a inclusão da rapidez da resposta na definição de
inteligência.
Cagliari (1985) chama a atenção para o fato de que na vida em família,
na escola e nas situações de teste as perguntas dos adultos têm significados e
funções muito diferentes para as crianças, o que contribui para confundi-las
nas situações de avaliação; quanto a rapidez da resposta, além da natureza
ideológica do conceito de inteligência empregado, existe o fato agravante de o
examinando ignorá-lo, pois faz parte da técnica de aplicação não o informar a
respeito.
A psicologia deve ir além das discussões teóricas. Deve-se dispor a
avaliar e classificar os indivíduos e na sociedade com um olhar aberto e
qualifica-lo com o caráter mais amplo para a própria concepção de ciência do
sujeito. Essa psicologia tem sido vista como positivista, reveladora das
motivações e potenciais de forma mais objetiva e fiscalista (Leopoldo e Silva,
1997, apud Patto,1997, p.52). É esperado durante uma avaliação:
“Ir a raiz, definir os seus compromissos sociais e históricos, localizar a
perspectiva que o construiu, descobrir a maneira de pensar e
interpretar a vida social da classe apresentada esse conhecimento
como universal (...). A perspectiva crítica pode (...) descobrir toda a
amplitude do que se acanha limitadoramente sob determinados
conceitos, sistemas de conhecimento ou métodos” (Martins, 1997,
apud Patto, 1995, p. 54).
Portanto, é indicado e esperado dos profissionais uma postura ética,
transparência, conhecimento teórico e cientifico na avaliação psicológica. A
psicologia deve oferecer um profissional que se aproxima dos pensamentos,
ideias, condições psicológicas e sociais de forma integral, ofertando assim para
análise e interpretação de estudos do indivíduo e do meio que está se
construindo como ser humano (Patto, 1997).
REFERÊNCIAS
Arantes, E.M.de M., Os Direitos Humanos na Prática Profissional dos
psicólogos: D.H e a Prática da Avaliação, 2003.
Bock, A. M. B. História da organização dos psicólogos e a concepção de
fenômeno ideológico. Em: Jacó-Vilela, A. M.; Cerezzo, A. C.; Rodrigues, H. de
B. C. (Org.). Clio-Psyquê Hoje – Fazeres e dizeres psi na história do Brasil. Rio
de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
Cagliari, L.C. O príncipe que virou sapo. Cadernos de Pesquisa, v.55, p.50-62,
1985.
Patto, M. H. S., Para uma crítica da Razão Psicométrica, 1997.
Rosato, Cássia Maria. Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos
comuns. Psicologia Revista, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 9-27, ago. 2011.
También podría gustarte
- Open Class 5 Inteligencia EmocionalDocumento70 páginasOpen Class 5 Inteligencia Emocionalscarlet lopez100% (1)
- Evaluación FormativaDocumento25 páginasEvaluación FormativaEver Oscar Culqui BarbaAún no hay calificaciones
- Catalina Denman y Jesus Armando Haro - Por Los Rincones Antologia de Metodos Cualitativos en La Investigacion SocialDocumento271 páginasCatalina Denman y Jesus Armando Haro - Por Los Rincones Antologia de Metodos Cualitativos en La Investigacion Socialhuverferia0% (1)
- Desvinculacion LaboralDocumento35 páginasDesvinculacion Laboralyeilimar vargasAún no hay calificaciones
- Evaluacion SG-SST Res 0312Documento31 páginasEvaluacion SG-SST Res 0312MYA COORDINADOR SSTAún no hay calificaciones
- ARTICULODocumento17 páginasARTICULOBlanca Caballero PoloAún no hay calificaciones
- Atencion, Percepcion y MemoriaDocumento8 páginasAtencion, Percepcion y Memoriaalix santaAún no hay calificaciones
- Informe Conductual.Documento3 páginasInforme Conductual.Angeli Esmery Yovera DelgadoAún no hay calificaciones
- Ejercicio Práctico (AyD) DNFDocumento3 páginasEjercicio Práctico (AyD) DNFthaniaAún no hay calificaciones
- Actividad 6Documento3 páginasActividad 6Melissa MartinezAún no hay calificaciones
- Estadìstica DescriptivaDocumento50 páginasEstadìstica DescriptivaAddys VasquezAún no hay calificaciones
- Equipo 6 - Diversidad Funcional EnsayoDocumento15 páginasEquipo 6 - Diversidad Funcional EnsayoAri hoseokAún no hay calificaciones
- Cerebro Humano Historia, Evolucion Teorias y SentidosDocumento20 páginasCerebro Humano Historia, Evolucion Teorias y Sentidosevelena alvarezAún no hay calificaciones
- Calibracin Transferencia VolumetricaDocumento22 páginasCalibracin Transferencia VolumetricaFrosan Adolfo Rodriguez GamboaAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Comunicación en El Rendimiento Investigativo de Los Estudiantes UniversitariosDocumento10 páginasLa Importancia de La Comunicación en El Rendimiento Investigativo de Los Estudiantes UniversitariosTatiana ValenciaAún no hay calificaciones
- Tipos de CienciaDocumento3 páginasTipos de CienciaXochiquetzalAún no hay calificaciones
- La Cuestión Del Ser en La Actualidad: Un Análisis Desde La Teoría CríticaDocumento9 páginasLa Cuestión Del Ser en La Actualidad: Un Análisis Desde La Teoría CríticacarolAún no hay calificaciones
- Rosas Palacios - Web 3Documento13 páginasRosas Palacios - Web 3Francisco QuilodránAún no hay calificaciones
- LEY No. 52Documento12 páginasLEY No. 52Jahir IgualasAún no hay calificaciones
- Factores Que Influyen en La ComunicaciónDocumento2 páginasFactores Que Influyen en La ComunicaciónOscar AguilónAún no hay calificaciones
- Planificación - 2023Documento8 páginasPlanificación - 2023Jose Telleriarte100% (1)
- Cap 6 VigotskyDocumento3 páginasCap 6 VigotskyAna Emilia SchwagerAún no hay calificaciones
- Resumen de La Teoría Del Aprendizaje Significativo de David AusubelDocumento7 páginasResumen de La Teoría Del Aprendizaje Significativo de David AusubelendersonAún no hay calificaciones
- Perez Gabriela Tarea 6Documento3 páginasPerez Gabriela Tarea 6GABRIELA OSIRIS PEREZ PEREZAún no hay calificaciones
- Línea de Tiempo-Técnicas PsicométricasDocumento2 páginasLínea de Tiempo-Técnicas PsicométricasGlaimir CastilloAún no hay calificaciones
- Circular N°. 202223 - Evaluaciones Cuarto Periodo - EnviarDocumento3 páginasCircular N°. 202223 - Evaluaciones Cuarto Periodo - EnviarAndrea Motta RodriguezAún no hay calificaciones
- Lluvia de IdeasDocumento3 páginasLluvia de IdeasMaricielo Capuñay GordilloAún no hay calificaciones
- FEDEDocumento52 páginasFEDEBryan ClaroAún no hay calificaciones
- Actividad S3-Lem Lucrecia.Documento1 páginaActividad S3-Lem Lucrecia.Luckitha CalAún no hay calificaciones
- Guia - de - Aprendizaje - 2 - SST - GESTION - CONTABLEDocumento14 páginasGuia - de - Aprendizaje - 2 - SST - GESTION - CONTABLEValentina MadariagaAún no hay calificaciones