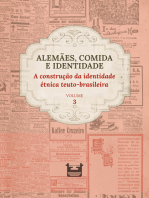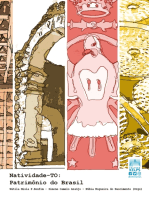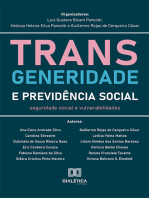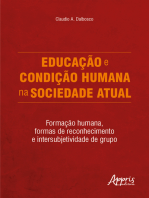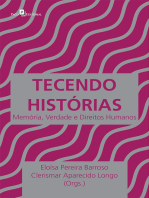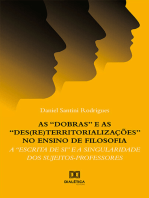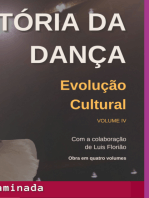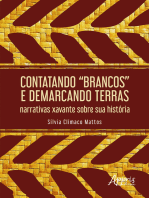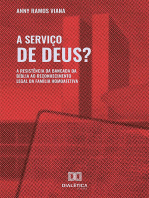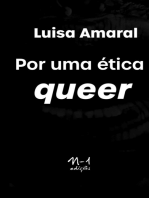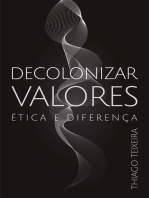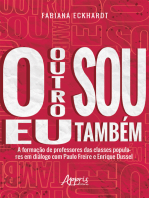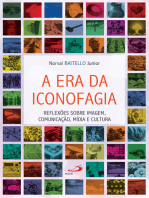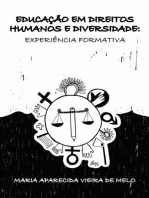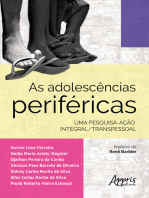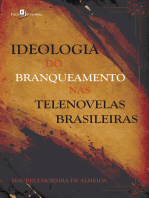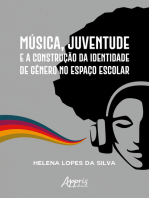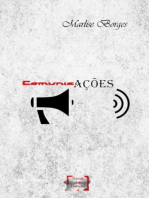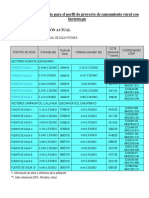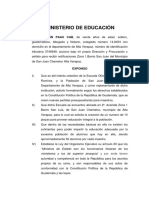Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A Problemática Da Identidae Cultural - Ulpiano Meneses
A Problemática Da Identidae Cultural - Ulpiano Meneses
Cargado por
JanianeCastroDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
A Problemática Da Identidae Cultural - Ulpiano Meneses
A Problemática Da Identidae Cultural - Ulpiano Meneses
Cargado por
JanianeCastroCopyright:
Formatos disponibles
A problemticada
museus: de objetivo
conhecimento) *
identidade cultural nos
(de ao) a objeto (de
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Diretor do MP/Universidade de SoPaulo
Identidade: uma noo problemtica
Na Declarao de Polticas Culturais de 1982, no Mxico, afirma-
va a UNESCO:
"Cada cultura representa un cuerpo nico e irremplazable de valores, puesto que Ias
tradiciones y formas de expresin de cada pueblo se constituyen en su manera ms
efectiva de demostror su presencia en el mundo. Por ello mismo, Ia afirmac1n de Ia
propria identidad contribuye a Ia liberacin de los pueblos. Por el contrario,
cualquier forma de dominacin constituye una negacin o impedimento pora alcan-
zar dicha identidad" (apud Laumonier 1993:37).
No mundo dos museus, declaraes como essa tinham largo curso
e imediata aplicao. Com efeito, desde a dcada de 60 que se estava
procurando resgatar um passado de funes homologatrias e conservadoras e
o tema da identidade cultural aparecia como rota capaz de conduzir os
museus, com segurana, ao porto almejado. Um dos documentos do
ICOM/Conselho Internacional de Museus, de alguns anos mais tarde (Buenos
Aires, 1986) mostra a centralidade do problema da identidade cultural, para
preencher as responsabilidadesque o museuassume, como fator de transfor-
maosocial:
"Su funcin no se limita ya en transmitir un mensaie universal para una audiencia
amorfa, sino que debe centrarse en poner Ia poblacin local en contacto con su pro-
pria historia, sus tradiciones y valores. Por medio de estas actividades el museo con-
Anais do Museu Paulista Nova Srie NQ1 1993
.O ncleo deste
texto, mais reduzi-
do e sem aparato
crtico, apareceu
nos Anais do JJI
Forum Estadual de
Museus - RS, Santa
Maria, UFSM, 19)2:17-
26, m o tulo "Identi-
dade cultural e mu-
seus: uma relao
probJemtica".
207
tribuye a que Ia comunidad tome conciencia de su propria identidad que genera~
mente le ha sido escamoteada por razones de orden histrico, social o racial, o que
se ha ido desdibujando bajo Ia presin de Ia centralizacin o Ia urbanizacin" (apud
Laumonier 1993:39).
208
A eleio da identidade cultural como um dos objetivos fundamen-
tais que o museu deveria perseguir (reforando identidades frgeis, consolidan-
do as desestruturadas, recriando as desfeitas, protegendo as ameaadas) levou
a que a questo fosse sempre acriticamente considerada e ;:1uetrabalhar a(s)
identidades(s) se transformasse numa palavra de ordem. E verdade que o
carter seletivo da identidade era s vezes reconhecido (como ocorre na
prpria continuao do ltimo documento transcrito), mas sua natureza, enquan-
to fenmeno social, era simplesmente ignorada. Da considerar-se a identidade
como uma substncia, quintessncia de valores e qualidades a priori positivas,
imunes a qualquer crivo. Eo museucomo seu santurio.
No h como negar que, enquanto ao poltica, tais posturas
deixaram um saldo positivo. No entanto, j mais que hora de aprofundar o
conhecimento do fenmeno da identidade (fazendo apelo contribuio das
cincias sociais, principalmente da Psicologia Social e da Antropologia) a fim
de evitar os inmeros descaminhos que sua desconsiderao provocou no
domnio do patrimnio cultural, em geral, e dos museus, em particular.
Convm comear, porm, pelo exame de algumas conotaes eti-
molgicas da expresso.
A raiz da palavra identidade expressiva. O grego idios se refere a
"mesmo", "si prprio", "privado". O derivado "idiota", por exemplo, indica a
quintessncia da mesmidade, a impossibilidade de um indivduo compreender o
que se passa fora do quintal de sua experincia privada.
Em conseqncia, a identidade pressupe, antes de mais nada,
semelhanas consigo mesmo, como condio de vida biolgica, psquica e
social. Ela tem a ver mais com os processos de reconhecimento do que de co-
nhecimento. Assim, os contedos novos no so facilmente absorvidos quando
a identidade est em causa, pois o novo representa, a, descontinuidade do
referencial, logo, ameaa, risco. Do ritmo (repetio), ao contrrio, decorre
sempre segurana: os batimentos cardacos compassados, a circulao normal,
o passo regular, etc., correspondem a sinais tranquilizadores, que qualquer alte-
rao compromete. E. Zerubavel (1989) ao estudar a necessidade psicolgica
e social das alternncias constantes, chegou a cunhar a expresso homo rythmi-
cus. A Psicologia Social tem ressaltado nos fenmenos de representaes so-
ciais o papel determinante da "ancoragem", mecanismo que permite a incorpo-
rao do novo por enraiz-Io em algum contedo previamente dominado e do
qual ele pareceria ser apenas um prolongamento (d. Moscovi 1990; Jodelet
1989).
Alis, a socializao, entendida como forma de criar identidades
sociais dos indivduos, que garante a reproduo da estrutura social (Cook-
Gumperz 1983: 123).
Por estas razes todas, a afirmao de identidade est vinculada a
necessidades de reforo. Com isso manifesta-se inquestionavelmente sua carac-
terstica tendncia conservadora.
Alm do mais preciso salientar seus compromissos na construo
de imagens, campo frtil para a mobilizao ideolgica e as funes de legiti-
mao em que determinadas prticas obtm aceitao social. Assim, p.ex., a
identidade pessoal indispensvel como suporte de status. A imagem que o
indivduo faz de si mesmo ser utilizada para justificar ou reclamar uma certa
partilha de direitos e obrigaes. Por isso, ela s ter eficcia se obtiver conva-
lidao externa, se houver aceitao social. Assim, na "apresentao do eu",
as pessoas "negociam" ou se acomodam s circunstncias sociais, nesse the-
atrum mundi que Goffman (1971) to bem caracterizou. Com maior razo a
identidade social depende das imagens construdas de forma a assegurar o
indispensvel endosso da sociedade (Weinreich 1983).
Da a tendncia de tais imagens (particularmente no caso das identi-
dades nacionais) escamotearem a diversidade e, sobretudo, as contradies,
os conflitos, as hierarquias, tudo mascarando pela homogeneizao a posteriori
e por uma harmonia cosmtica. Observe-se, pois, como ela pode facilmente
servir para alimentar as estratgias de dominao e desempenhar funes
anestsicas (d. Ortiz, 1985; Queiroz 1989).
Emsuma, a viso simplistacom que se tem tratado no campo cultural
a questo da identidade encobre graves problemas, que preciso trazer tona.
Identidade, semelhana, diferena
Se a identidade tem como foco a semelhana, ela produz, em con-
trapartida, a diferena: a afirmao de semelhana necessita da oposio do
que no semelhante. Frederik Barth (1968), por exemplo, explora nessa linha
o conceito de "identidade contrastiva". Emconseqncia, a identidade forosa-
mente no apenas deriva das diferenas, mas precisa explicit-Ias e exarceb-
Ias. O semelhante inofensivo1incuo. E o diferente gue encerra risco, pertur-
ba. Assim, a diferena est na base de todas as classificaes, discriminaes,
hierarquizaes sociais. Emoutras palavras, no se precisam as diferenas ape-
nas para fins de conhecimento, mas para fundamentar defesas e privilgios:
"representaton of otherness participates in the production and reproduction of social
inequalily. The culture of difference is a hierarchical culture" (Pieterse 1991 :201).
Emsuma, identidade e poder no se dissociam.
Qualquer rpido olhar sobre a situao mundial contempornea
confirma esta importncia de ameaa e dos conflitos de interesse no
aguamemto e no surgimento/ressurgimento da identidade. No so outras as
variveis presentes em reas de confronto, de matriz tnica patente: Pas Basco,
Irlanda do Norte, Oriente Mdio, ex-Iugoslvia, ex-Unio Sovitica e assim por
diante - alm do renascimento, inclusive entre ns, dos separatismos, racismos
e estigmatizaes culturais.
209
Identidade e dinmica scio-cultural
A identidade no uma essncia, um referencial fixo, apriorstico,
cuja existncia seja automtica e anterior s sociedades e grupos - que apenas
os receberiam j prontos do passado. No existe um contedo ou grau ideal de
identidade. "Perdada identidade", assim, uma expressoenganadora - e
bem diversa da crise de identidade, de que fala Erickson (1980: 132L ou da
perda de condies de formular / reformular a identidade. Muitas vezes, tal
expresso apenas mascara o fenmeno da mudana scio-cultural. Da mesma
forma, "resgatar a identidade" objetivo impossvel de atingir. Como recuperar
algo que no esttico, no tem contorno definitivo, pronto e acabado,
disponvel para sempre? Com efeito, no s a identidade um processo inces-
sante de construo/reconstruo, como tambm ganha sentido e expresso nos
momentosde tensoe ruptura- precisamentequandoseagua a percepodo
diferena e suo presena se faz mais necessria. Assim, no existe identidade
em abstrato. A identidade s pode ser identificada "em situao". Sem histori-
cizao e anlise de conjunturas precisas inconseqente o estudo de refern-
cias culturais, p.ex. nos movimentosseparatistas (cf. Ables 1980:35).
A identidade no , pois, fruto do isolamento de sociedades ou gru-
pos mas, pelo contrrio, de suo interao. Ela crucial quando existem seg-
mentos sociais que no se pensam como totalidades nicos (Carvalho
1983:20).
Alis, nem a construo do "eu", nem a do "outro", produzem enti-
dades discretas - e opostas - mas subsistemapenas dialeticamente. O outro,
diz Van Alphen (1991 :3L na dimenso do extico, o viso negativo daquela
que o prprio observador tem de sua identidade. E continua:
"The other is not the description, not even an interpretation of realify, but the formula-
tion of an ideal, desired identify. In the cose of nationalism, descriptions of the other
ore phantasms of the potential enemy, not interpretations of o real one in any sense
(...) the other has no objective existence outside the interpreter's perception".
Almdisso, a identidade se fundamenta no presente, nas necessi-
dades presentes, ainda que fao apelo 00 passado - mas um passado tam-
bm ele construdo e reconstrudo no presente, paro atender aos reclamos do
presente.Por isso que um historiadorcomo Hobsbawm(1984) tanto insistiu
na "inveno"das tradies.
Identidade e segmentao social.
210
Se se ignorar o que dizem os cincias sociais sobre a diferenciao
social nos sociedades complexas, corre-se o risco de falar de identidade crista-
lizada, no singular - ilusrio, portanto, j que desconhece os segmentos so-
ciais, sobretudo os prprios classes sociais. Isto no quer dizer que deva sem-
pre existir uma correspondncia entre uma classe social e uma imagem de iden-
tidade especfica. Nem que a identidade da classe dominante seja a identi-
dade dominante, mecanicamente (Chesko 1992:45)
A situao muito mais complexa. Por ora, basta ressaltar que, se
quisermos nos afastar da iluso de uma totalidade ntegra e coesa, teremos que
forosamente enfrentar o problema das divises e do conflito. Roberto Cardoso
de Oliveira (1976, 1983), por exemplo, demonstra como, em nossa situao
histrica, no h como admitir identidade tnica fora dos sistemas intertnicos.
Ele props o conceito de "frico intertnica"(por certa analogia com a luta de
classes), para respeitar a relao dialtica que articula etnia e classe social e
ressaltou o papel da ideologia (cujo ncleo a identidade), mascarando
relaes efetivas que se do no nvel da estruturasocial.
Deixando de lado o problema mais amplo de estruturae das classes
sociais, bom chamar a ateno para outras segmentaes menores, mas
muito importantes - na tica dos museus- pelo uso discriminador de objetos.
Pode ser lembrado o estudo de Hedbige (1974), que buscou analisar, na
Inglaterra, esse fenmeno da compartimentao de culturas e o uso contes-
tatrio, dentro dela, das expresses materiais. Examinando as prticas e repre-
sentaes de hippies, punks, skinheads, hooligans, etc. (que ele trata como sub-
culturas, segmentos da cultura que procuram neg-Ia), props-se identificar as
funes desempenhadas pelo "estilo", enquanto apropriao de certos objetos
e procedimentos como signos de identidade proibida ou como fontes e porta-
dores de novos sentidos: jaquetas de couro, adornos metlicos, broches, pintura
corporal e padres corporais de expresso, penteados, msica, etc., etc. Nisso
tudo ele viuum repto hegemonia cultural, em que as contradies e objees
so expressas indiretamente pelo estilo e, assim, resolvidas apenas imaginaria-
mente. Em decorrncia, na contracultura a identidade se afirma sobretudo pelo
estilo, aglutina-se na revolta, na recusa, na contraposio. Fenmenos como
essesno podem ser ignorados na compreenso da identidade.
Os museuse o problema da identidade scio-cultural
A teatralizao da vida social e suas implicaes nos processos de
identidade tema que tem recebido ateno cada vez maior (d. Goffman
1971, como uma das referncias iniciais). Seria interessante, por isso mesmo,
dar mais ateno importncia, nessesprocessos, da visibilidade, da sensoria-
lidade. Issonos encaminhapara o campo dos museus- que se caracterizam,
precisamente, pela prioridade que neles tm as coisas materiais e pela possibili-
dade de explor-Ias no s cognitiva, mas tambm efetivamente. Em suma, os
museus dispem de um referencial sensorial importantssimo, constituindo, por
isso mesmo, terreno frtil para as manipulaes das identidades. Seria ocioso
lembrar com que facilidade certos objetos se transformam em catalisadores e
difusores de sentidos e aspiraes: da cruz do cristianismo aos uniformes mili-
211
tares, passando pelas bandeiras nacionais e pelos emblemas publicitrios. Trata-
se, efetivamente, de fetiches de identidade, de alto poder de comunicao.
J se salientou como, no Ocidente, a idia de identidade est asso-
ciada de coleta e acumulao de posses - "a kind of wealth (of objects,
knowledge, etc.)", no dizer de Clifford (1985:238). Em linha semelhante,
analisando documentos da UNESCO (como os mencionados no incio deste
artigo), Handler (1991) demonstrou contundentemente a persistncia do indi-
vidualismo possessivo postulado por Macpherson, e que leva, afinal, a va-
lorizar f?olticas culturais nas quais, em ltima instncia, "being depends upon
having' (ib.:69).
Territrio das identidades, os museus so pois percebidos como
recurso estratgico a seu servio. A exposio, em especial, tem sido vista
como "privileged arenas for presenting images of self and other" (Karp
1951: 15; ver tambm Abranches 1983).
Seria ingnuo imaginar a ausncia, aqui, das molas do poder. Alis,
Donald Horne (1984), em livro muito difundido, demonstrou o papel fundamen-
tal dos museus na legitimao do poder e do imaginrio da Europa, desde a
consolidao das nacionalidades, no sculo passado.
Por sua vez, explcita a demanda de jovens naes, de utilizar os
"museus nacionais" para alimentar seu prprio projeto de identidade ("projeto",
obviamente, pressupe pr-existncia com relao identidade). Patrick Boylan
(1990\ deixou, a esse respeito, testemunho esc\orecedor. Ao organizar o Museu
do Quatar, logo depois de sua Independncia, ele registrou que, segundo os
dirigentes da nova nao, quatro eram as prioridades de governo, expressa-
mente formuladas, pela ordem: organizao de um sistema de defesa, criao
de um museu nacional, organizao de um sistema de comunicaes, criao
de uma universidade. Esta no uma operao neutra. Escusado dizer que, a
fim de alimentar a imagem da nao, o museu alimenta tambm suas reivindi-
caes - melhor dizendo, menos as reivindicaes da sociedade, que as do
estado e seus suportes. Essa operao impe que se eliminemas diversidades e
tenses e que se reduza toda uma realidade complexa e dinmica a um referen-
cal fixo, simples, dotado da capacidade de captar algo como uma substncia
permanente, uma essncia imune a mudanas e que se torna visvel no "tpico".
Da a reificao dos objetos, sua coisificao, fetichizao. Isto , cria-se a
iluso de que eles que se relacionam uns com os outros e exprimem contedos
prprios e no os das sociedades e grupos cujas interrelaes que os pro-
duzem, mobilizam e Ihes do sentido -sempre em alterao constante. No
museu, o risco que uma exposio, por exemplo, se transforme em apresen-
tao de coisas, das quais se podem inferir paradigmas de valores para os
comportamentos humanos e no na discusso de como os comportamentos
humanos produzem e utilizam coisas com as quais eles prprios se explicam.
Com a agravante de gue o tpico acaba,facilmente, transformado em
esteretipo (d. Ames 1986) - gerado, sempre no seio de uma relao de
foras (para um exemplo ilustrativo,sobre o "tipicamente nordestino", ver Penna
1992).
212
Balanointermedirio
Ora, tudo o que veio exposto at aqui poderia parecer um libelo
contra os processos de identidade e, em particular, contra sua presena negati-
va no campo dos museus. No entanto, o que se quis ressaltar foi apenas o
carter problemtico das questes da identidade, carter de que o museuainda
no tomou conscincia profunda, mormente nas implicaes para as prticas
museolgicas. No possvel minimizar a necessidade dos processos de identi-
dade, que constituem, como se disse no incio, requisito essencial de vida
biolgica, psquica e social. Todavia, as mltiplas dimenses do fenmeno
que no podem ser perdidas de vista.
Em outras palavras, o que se deve propor que os museustenham
sempre e obrigatoriamente uma postura crtica em relao problemtica da
identidade. -
Museus e identidade: premissas para uma postura crtica
Sem a postura crtica, portanto, facilmente os museus se deixariam
embaraar numa rede ideolgica. Conviria, consequentemente, refletir melhor
sobre alguns tpicos aptos a orientar esse esforo de anlise e entendimento.
Numa tipologia sumria, podem-se distinguir trs nveis principais de
amplitude na atuao dos museus: o universal, o nacional e o local/regional.
O primeiro, por certo, se apresenta como distante do vis ideolgico da identi-
dade. Isto, porm, est longe de ser verdadeiro, embora, no caso, tal vis seja
menos articulado e aparente. Alis, basta examinar alguns dos grandes museus
da espcie (Louvre, BritishMuseum, Dahlem, Metropolitan ...) para concluir que
a prpria pretenso universalidade j um sintoma de etnocentrismo. Este
modelo enciclopdico, porm, j no hoje o mais difuso e no deve ocupar
nossa ateno, ainda que ele tenha repercusses importantes nos museus de
arte contempornea e nos de cincia e tecnologia, que postulam uma universali-
dade de condio.
J o museu de horizontes nacionais o que maior risco corre, em
particular por sua necessidade de dar conta de uma suposta totalidade, a
nao. Ocorre, assim, comumente, que ele passe a privilegiar o esteretipo (ver
Dundes 1983:250ss.), por sua capacidade de expressar a quintessncia do
tpico: roupas, alimentos, armas, utenslios, objetos domsticos, de aparato e
cerimoniais, equipamentos, imagens e situaes, tudo se organiza disciplinada-
mente e a diversidade apenas d mais cor ao ncleo estvel da identidade
nacional. Por j ter existido no passado, esta deve continuar indefinidamente
sua existncia. Nos museus histricos, tal perspectiva obriga a snteses j dis-
cutveis como forma de conhecimento histrico ("Histria Nacional"...) e cujo
resultado, muitas vezes, equivale ao de enciclopdias ilustradas que do
ordem, forma e sentido a um universo catico e trepidante de contradies (ver
Leon&Rosenzweig,eds. 1989; Schlereth1992:303-415; Walsh 1992).
Ao contrrio, julgo que seria obrigao primordial de um museu,
no fornecer o "tpico" para consumo, mas condies para que se possa enten-
213
der como, numa sociedade, se constri a tipicidade, como se formulam nos
diversos lugares sociais e se articulam entre si (inclusive hierarquicamente) os
inmeros vetores materiais emblemticos de objetos, prticas e valores, e como
estes contedos "tpicos" e seus suportes so utilizados, funcionam e mudam.
Com maior razo, tratamento semelhante deve ser reservado aos
esteretipos. Conviria, a, recorrer s contribuies da Etnopsicologia (d. Kohn
1974:201 L cuia tarefa principal a anlise crtica das representaes do co-
nhecimento vulgar, de referncia tnica ou nacional.
O museu local! regional seria aquele em que os processos de identi-
dade encontrariam o espao mais aceitvel de expanso. Entretanto, no h
por que exclu-Iosdos riscos. No h, em nossa sociedade, realidade regio-
nal/local que seja homognea e esttica. Da o perigo de tais museus
exercerem papis compensatrios de refgio para simbolicamente "recuper-
arem" uma unidade perdida ou (o que pior) de espelhos em que narcisistica-
mente se procure a devoluo da imagem que j tinha sido atribuda a si
prprio - e que agora retoma sedutora, pronta a se transformar numtermmetro
com o qual se mede (etnocntricamente) toda a realidade. G.H. Riviere, o
grande mentor do museu socialmente responsvel e inspirador dos ecomuseus,
sempre chamou a ateno para estes desvios, seja do museu-refgio, seja do
museu-espelho (d. Raphael & Herbrich-Marx 1987:87).
Como concluso, importa reiterar que no cabe aos museus serem
depositrios dos smbolos litrgicos da identidade sagrada deste ou daquele
grupo, e cuja exibio deve induzir todos aceitao social dos valores impli-
cados. Cabe, isto sim - j que ele o espao ideal para tanto -, criar
condies para conhecimento e entendimento do que seja identidade, de
. como, por que e para que ela se compartimentae suas compartimentaesse
articulam e confrontam, quais os mecanismos e direes das mudanas e de
que maneira todos esses fenmenos se expressam por intermdio das coisas
materiais. A formulao de Hainard me parece pertinente para indicar a
direo deste esforo: deve-se irao museus para interrogar e se interrogar, no
para buscar respostas j concludas.
A identidade e a prtica dos museus
214
precisofazer
d
.ustia e reconhecer que, j h algum tempo, muitos
dos problemas aqui referi os tm preocupado os muselogos e aberto vrios
caminhos de superao. Ainda que parciais e insuficientes, no podem ser
desconsideradas as propostas formuladas e experimentadas. Valeria a pena
examinar algumas delas.
Uma das linhas a da "desmusealizao" dos acervos. Com esta
expresso refiro-meaos casos mais simples de devoluo de peas a seus con-
textos originais (embora tais contextos possam ser tambm museolgicos), como
o retorno pelo governo italiano Albnia da esttua da deusa de Butrintoou o
recmbio, Alemanha, de peas subtradas por soldados americanos durante a
ltimaguerra - para citar dois entre muitssimos outroscasos (Greenfield1989;
Robinson 1980).
Refiro-me,porm, em especial, reapropriao de peas para usos
no museolgicos. Assim, em 1976, a entrega aos Krah, por comodato, de
uma machadinha incorporada desde 1947 s colees do Museu Paulista da
USP atendeu a alegaes de sua importncia para cerimnias essenciais na
configurao da identidade cultural do grupo. Nos Estados Unidos, Canad,
Austrlia, Nova Zelndia, tm sido freqentes exemplos comparveis; em muitos
casos, a devoluo se refere a despojos funerrios (Handler 1991; Ham
1981, 1990; Jones 1993, Jones et alii 1993).
Trata-se de um verdadeiro movimento, iniciado h mais de duas
dcadas, que tem a impulsion-Iovrias entidades, organizadas principalmente
nos Estados Unidos e Canad, como o North American Indian Rights Fund, a
North American Indian Museums Association ou a Assembly of First Nations.
Nos Estados Unidos, alis, os resultados tm sido considerveis: desde 1978 o
Cdigo de tica da AAM/ American Association of Mu~eums incluiudispositivos
referentes manipulao de objetos sagrados e restos sseos -dispositivos pre-
cisados e ampliados posteriormente e constantes de polticas formais. Em 1990
foi promulgado o The Native American Graves Protectionand RepatriationAct,
cujo enunciado j revela bem a amplido e propsitos abrangidos. A
UNESCO tambm tem participado destes debates (que, pelo sua complexi-
dade, ficam aqui apenas apontados) e formulado propostas, como as encami-
nhadas pela reunio de Atenas, 1991, do Comit Intergovernamental Para a
Promoo do Retornode Bens Culturais a seus Pases de Origem.
Outra modalidade a cesso do acervo e local para cerimnias ou
situaes de prticas originais: sirva de ilustrao a execuo de atos religiosos
pelos Maori no Hawkes Bay Museum (Nova ZelndiaL atendendo a todas as
regras culturais, inclusivea interdio da presena de mulheres e de no-Maori
(Lowenthal 1992:26). .
Diga-se de passagem que estas excluses - previstas, como se disse
acima, nos processos de identidade - tm sido objeto de ressalvas. Com
relao aos mesmosMaori, diz AdrienneKaeppler(apud Karp& Lavine,orgs.
1992:2): .
"Are Maoris and their heritage to be considered separa te from ... other Pacific
islanders who make New Zealand their home? Will museums be on the forefront of
cultivating new kinds of identity and educating the population about them? o.. Should
they echo the political climate or should they be a force of change?"
Estas questes no podem ser levianamente respondidas - e no h
propsito, neste texto, em aprofund-Ias. Basta mencionar que a excluso foi
sempre a norma. Talvez o exemplo mais retumbante, triunfalista - e sedutor -
seja o do Museu de Antropologia do Mxico que, apesar de seu carter
nacional, no apenas exilou, obviamente, os espanhis conquistadores, mas
tambm os negros e os imigrantes (Garda Canclini 1989: 171-2).
A incorporao, para projetos comuns, de minorias ou represen-
tantes daqueles grupos que definem os horizontes a serem cobertos pelos
215
216
museus, outra linha em curso. Predomina nos museus antropolgicos, mas est
presente tambm em museus de outra tipologia, como os de arte contem-
pornea(cf. Karp & Lavine, orgs. 1991; Ames 1990).
O Museu Goeldi apresentou em Belm e no Rio uma exposio
Kayap que teve, na responsabilidade de sua organizao, a presena dos
prprios indgenas, o que determinou marcas fundamentais - e positivas -:-no
resultado (Oliveira & Ham, orgs. 1992).
Desta forma, tm surgido vrias exposies segundo a tica do rep-
resentado, como as mostras organizadas por Goswamy (Karp 1990:21 L de
arte indiana, e estruturadas segundo o conceito esttico indiano de rasa (basea-
do na resposta emocional direta). Doutra parte, h propostas de sistematizar os
pr-requisitos para este reconhecimento, nos museus, do "outro"como sujeito.
Ames, por exemplo 11986 e, sobretudo 1990) ressalta a impartncia de des-
fazer certos binmios redutores, como arte/artefato, passado/presente e assim
por diante. ,
Estas experincias se tm multiplicado em vrias partes do mundo.
De certa forma, o projeto dos ecomuseus se insere nesta vertente - embora por
vezes dificultada pela conceituao do que seja a "comunidade"que , ao
mesmo tempo, objeto e sujeito do museu.(Para uma caracterizao geral, ver
Hudson 1992).
Uma terceira vereda procura levar s ltimas conseqncias o
debate relativo ao "direito Histria". A quem pertence a Histria? Quem est
legitimamente capacitado para produzi-Ia e utiliz-Ia?J se v que a questo de
fundo o controle do universo do sentido: problema de alcance poltico central,
que os museus no podem deixar de encarar de face (ver Handler 1991;
Meneses 1993; Messenger, org., 1989; Gathercole & Lowenthal 1990; Layton
org., 1989; McBride, org. 1985).
Nessa tica que minorias "documentadas" em museus passaram a
exigir que no s a formao de colees e a organizao de exposies e
outras atividades contassem com a assessoria e colaborao de seus represen-
tantes, mas que toda a gesto institucional fosse de sua exclusiva responsabili-
dade. Da a distino que comea a operar-se (p. ex., nos Estados Unidos,
Canad, Austrlia, etc.) entre museus antropolgicos e museus tnicos.
Todas e$tas alternativas so muitoamplas e de graves conseqncias
para serem discutidas sumariamente, aqui. Limito-meapenas a apontar questes
que necessitaro de urgente aprofundamento e estudo sistemtico.
Em primeiro lugar, preciso reconhecer que elas expressam
saudveis reivindicaes polticas e, com isso, acentuam a dimenso social do
museu, projetando luz sobre questes que permaneceram durante muito tempo
numa injustificvel inconscincia. Contudo, os efeitos colaterais podem ser to
danosos quanto os do mal que se queria combater: as experincias acima lem-
bradas no so eficazes para resolver, no museu, o inevitvel confronto com o
"outro", o conhecimento e a aceitao da alteridade, embora removam algu-
mas formas repressoras da alteridade.
Lowenthal (1952) observou que, desejando superar o elitismo,
muitas vezes os museus caram no populismo e no paternalismo. A necessria
contestao do saber acadmico que se apresente como o nico objetivo e
inatacvel no pode resumir-seao plo oposto (e, ao final das contas, equiva-
lente) de monopolizar como definitivoo saber subjetivo, interno aos grupos, pro-
postos como a nica instncia vlida para dizer (todas) as coisas pertinentes
sobre si mesmo (ver, para discusso sobre "olhar interno" e o "olhar externo",
Aug 1989).
Conviria, para finalizar, tentar uma aproximao no debate destas
questes pertinentes aos museus, com aquelas que tm sido levantadas nas dis-
ciplinas afins, em particular a Histria e a Antropologia, quanto produo do
conhecimento. Afinal, o problema do conhecimento crucial em ambos os con-
textos e deslocar o foco de interesse, de sua natureza e fundamentos internos,
para o de sua legitimidade formal, ressuscitar o argumento de autoridade.
Ora, necessrio combater toda pretenso a monoplio e toda tutela sobre o
conhecimento, seja do vencedor ou do vencido, da minoria ou da maioria, do
observador ou do observado.
A Histria comeou a preocupar~se tardiamente com o problema do
"outro", que o foco destas discusses. Hoje, todavia, a disposio de dar
voz aos silentes e excludos tem provocado uma fragmentao generalizada,
que corre o risco de atomizar o campo da disciplina. So inmeras as va-
riantes temticas e metodolgicas: Histria "vista por baixo", Micro-histria,
Histria Antropolgica, Histria do cotidiano, Histria Oral, Histria das mu-
lheres, das crianas, etc. etc. etc. (para um panorama, ver Burke 1991).
Excludos os frutos dos modismos e a ocorrncia de descompromissos com a
insubstituveldialtica entre as macro e as micro-estruturas, evidente o benef-
cio que essa introduo da dimenso da "experincia vivida" trouxe ao co-
nheCimento histrico.
No entanto, nenhuma justificativa haveria, por isso, para imaginar
que o papel do historiador fosse, apenas, o de providenciar assepticamente
canais para a fiel expresso dos agentes da Histria (agora nos dois sentidos,
de processo e operao cognitiva). Seria confundir o dado com a informao
-nvel puramente emprico, que necessitaria de processamento adequado para
transformar-seem conhecimento. Por outro lado, se tal conhecimento, que no
objetivo, tambm no for inter-subjetivo, mas permanecer mergulhado na subje-
tividade, escaparia a qualquer avaliao crtica - a nica garantia de vali-
dade. Paralela a estas questes a da memria que, pelas mesmas motivaes
sociais (e polticas) j se props como equivalente Histria. Hoje, parece-me
aceito que a Histria no deva ser o duplo cientfico da memria, o historiador
no possa abandonar sua funo crtica e a memria precise ser tratada como
objeto da Histria (Meneses 1992).
A Antropologia, por tratar de um "outro" predomif1antemente vivo,
tem contribuio mais rica a fazer (cf. Segalen org. 1989). E fundamental a
concepo de texto etnogrfico (o comparvel, em nosso domnio, seria a
exposio museolgicaL vetor de representaes culturais de carter contin-
gente, histrico e sujeito a contestao (Clifford&Marcus 1986).
Desloca-se, assim, o paradigma da observao para o da interao
("interlocutionarysituation", na terminologia de Austin). O "outro" no constru-
217
do independentemente do lIeullevice-versa: IItheother is other because s/he is
focalized by the self of the observer" (van Alphen 1991: 15).
Paralelamente, no terreno museolgico, Edwina Taborsky (1990),
examinando as limitaes do paradigma observacional do conhecimento,
prope a predominncia do objeto discursivo para a organizao dos enuncia-
dos que o museu produz, na exposio. Esta viso de que o conhecimento se
constri, no previamente circunscrito{ fechado{ mas na interao
observador/objeto{ prenhe de implicaes de toda ordem e{ por isso{est a
exigir ateno e estudo. A Museografia{ com efeito{ se encontra despreparada
para responder, j{ a tais exigncias (Meneses 1993). .
Os problemas aqui apontados{ ao invs de encerrarem a discusso
apenas abrem novas frentes. Por isso{ que tem sentido encerrar este texto ape-
nas salientando duas questes seminais, que encaminho para a necessria e
urgente reflexo ainda por fazer.
A primeira diz respeito ao carter contingente que deve assumir a
exposio, tal como lima monografia, em que esto mo do leitor todas as
cartas que o autor utilizou - e que podero ser, assim avaliadas. Como intro-
duzir museograficamente tal postura? Como, com os prprios sentidos que a
exposio prope{ exibir museograficamente o processo de sua produo?
A segunda questo: a perspectiva discursiva acima apontada como
conveniente exposio implica que a problemtica da identidade e da alteri-
dade IIshouldnot focus on the intrinsiccharacteristics of a cultural artefact{ but on
the interlocutionary situation in which such an object receives its meaning'{ (van
Alphen 1991 :5). Como se institui{ento, museograficamente{ esta interao
discursiva - to mais frtil do que os padres usuais de exposio interativa{no
modelo IIhands onll{com seus compromissos, em geral, de pura motricidade?
Em um caso e outro{ preserva-se a dimenso crtica do museu{ to
desprestigiada em nossos dias - mas sem a qual se compromete toda responsa-
bilidade social.
Imagino{ por tudo isso{ que o museu deva abandonar como exclu-
sivos seja o modelo da torre de marfimda Academia{ seja o da trincheira de
militncia. A imagem mais adequada{ penso, seria a da Torre de Observao
(a 1I0utlook Towerll de Patrick GeddesL plantada no corao da cidade{
solidria como ela, mas capaz de permitir examin-Ia criticamente, como um
todo e em suas partes (uma das quais a prpria torreL nas suas contradies e
descontinuidades{ nos seus conflitos e reivindicaes divergentes{ na sua perma-
nente dinmica. .
Somente assim a afirmao da identidade, ainda que geradora da
diferena{ deixar de municiar automaticamente as estratgias da dominao.
BIBLIOGRAFIA
218
ABLES,Marc. Le local Ia recherche du temps perdu. Dialectiques, Paris:31-
1980 42, 30, Octobre.
ABRANCHES,Henrique. Muses et recherche d'une identit culturelle.
1983 In: ICOM'83. Londres, ICOM/UK.
AMES, Michael M. Cultural empowerment and museums. In: PEARCE, Susan
1990 M. ed. Objects of knowledge. London, Athlone: 158-173
(New Research in Museum Studies, 1).
AMES, Michael M. How anthropologists stereotype other people. In:
1986 Museums, the public and Anthropology. Vancouver, University
of British Columbia Press:38-47.
AUG, Marc. L'autre proche. In: SEGALEN,M. (org.). L'autre et le semblable. .
1989 Paris, Presses du CNRS:19-33.
BARTH, Frederik. Los grupos tnicos y sus fronteras. Mxico, Fondo de
1968 Cultura Econmica. .
BOYLAN, Patrick. Museums and cultural identity. Museums journal,
1990 London:29-32, 90 (0) October;
BURKE, Peter. (org.) A Escrita da Histria. Novas Perspectivas. So Paulo, Ed.
1992 UNESP.
CARVALHO,Edgard de Assis. Identidade e etnicidade e questo nacional. In:
1983 Anais do I Encontro Interdisciplinar sobre Identidade. So
Paulo, PUC/SP (Boi. do Grupo de Pesquisa sobre Identidade
Social, 2, nov.).
CHESKO, Sergei. Problemas etnopolticos recientes en Ia ex-URSS. In: HIDAL-
1992 GO, Cecilia & TAMAGNO,Lilian, orgs., Etnicidad e Identidad.
Buenos Aires, Centro Editorial de Amrica Latina.
CLIFFORD, ]ames. Objects and selves - an afterword. In: STOCKING, ]r.,
1985 George W., ed., Essays on museums and material culture.
Madison, The University of Wisconsin Press: 236-244.
COOK-GUMPERZ, ]enny. Socialization, social identity and discourse. In:
1983 ]ACOBSON-WIDDING, ed., 1983: 123-133.
CORBEY, Raymond & LEERSSEN.]oep, eds., Alterity, identity, image. Selves
1991 and Others in society and scholarship. Amsterdam, Rodopi.
DUNDES, Alan.Defining identity through folclore. In: ]ACOBSON-WIDDING,
1983 ed., 1983:235-261.
219
ERIKSON, Erik H. Identity and the life cycle. A re-issue. New York, Norton &
1980 Co.
GARCACANCLINI,Nstor. Culturas hbridas. Estrategias para entrar y
1989 salir de Ia modernidad. Mxico, Grijalbo.
GATEHRCOLE,P. & LOWENTHAL,D.,eds. The politics of the pasto London,
1990 Unwin Hyman.
GEDDES, Patrick. Critic survey of Edinburgh. Edinburgh, Outlook Tower.
1911
GOFFMAN, Erving. Tbepresentation of self in everiday life. Harmondsworth,
1971 Penguin.
GREENFIELD. ]eanette. Tbe return of cultural treasures. Cambridge, Cambridge
1989 University Press.
HAM, Denise. Tbe survival of na tive American values. Indian, claims to
1981 Museums. Washington, George Washington University (disser-
tao de mestra do em "Museum Studies", ms).
HAM, Denise. A sobrevivncia de valores indgenas: as solicitaes de repa-
1990 triao de objetos sagrados e de esqueletos humanos feitas aos
museus. (ms).
HANDLER, Richard. Who owns the pasto Cultural property and the logic of
1991 possessive individualismo In: WILLIAMS,Brett, ed., Tbepolitics
of culture. Washington, Smithsonian Institution Press: 63-74.
HEDBIGE, Dick. Subculture. Tbe meaning of style. London, Methuen.
1979.
HOBSBAWM, Eric. Introduo: A inveno das tradies. In: HOBSBAWM,
1984 E. & RANGER, T., orgs. A inveno das tradies. Rio, Paz e
Terra:9-23.
HORNE, David Donald. Tbe great museum. Tbe re-presentation of History.
1984 London, Pluto.
HUDSON, Kenneth. The dream of the reality. Museumsjournal. London: 27-
1992 31, apriI.
220
]ACOBSON-WIDDING, Anita, ed. Identity: personal and sacio-cultural. A
1983 Symposium. Uppsala, Uppsala University.
]ACOBSON-WIDDING, Anita. Introduction. In: ]ACOBSON-WIDDING ed.,
1983 1983:13-32.
]ODELET, Denise, org.Les reprsentations sociales. Paris, PUF.
1989.
]ONES, ]ane Peirson et ali. Bones of contention. Museums journal. London:
1993 24-36, March.
KARP,Ivan & LAVINE,Steven D., eds.Exhibiting cultures. Poetics and politics
1991 of museum display. Washington, Smithsonian Institution
Press.
KARP,Ivan. Culture and representation. In: KARP & LAVINE, eds., 1991:11-24.
1991
KOHN, Igor S. Le probleme du caractere national. Revue de Psychologie des
1974 Peuples, Le Havre:193-223, II/III (vol. 29), ]anv./Sept.
LAUMONIER,Isabel. Museo ysociedad. Buenos Aires. Centro Editorial de
1993 Amrica Latina.
LAYTON, R. ed., Who needs the past? Indigenous values and Archaeology.
1989 London, Unwin Hyman.
LEON, Warren & ROSENZWEIG, Roy, eds. History museums in the United
1989 States: a crtical assessment. Urbana, University of Illinois Press.
LOWENTHAL,David. From patronage to populism, Museums journal,
1992 London:24-17, 92, March.
MASCOVICI, Serge, org. Psychologie Sociale. Paris, PF.
1990.
MCBRIDE, Isabel, ed., Who owns the past? Melbourne, Oxford University
1985 Press.
MENESES,Ulpiano T. Bezerra de. A exposio museolgica: pontos crticos na
1993 prtica corrente. Cincias em Museus, Belm, 3 (no prelo).
MENESES,
1992
Ulpiano T. Bezerra de. A Histria, cativa da memria? Para um
mapeamento da memria no campo das cincias sociais.
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros/USP, So Paulo: 9-
24,34.
MESSENGER,Phyllis M., org., The ethics of collecting cultural property.
1989 Whose culture? Whose property? Albuquerque, University of
New Mexico Press.
221
OLIVEIRA,Adlia Engrcia de & HAM, Denise, orgs. Cincia Kayap. Alter-
1992 nativas contra a destruio. Belm, Museu Paraense "Emlio
Goeldi".
OLIVEIRA,
1983
Roberto Cardoso de. Identidade e estrutura social. Etnicidade e
estrutura de classe. In: Enigmas e solues. Exerccios de
Etnologia e de crtica. Rio, Tempo Brasileiro/Fortaleza, Ed.
da UFCE:101-149.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. So
1976 Paulo, Pioneira.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade social. So Paulo, Brasiliense.
1985
PENNA, Maura. O que se faz ser nordestino. Identidades sociais, interesses e
1992 o "escndalo Erundina". So Paulo, Cortez.
PIETERSE, Jan Neder veen. Image and power. In: CORBEY & LEERSSEN, eds.,
1991 1991:191-203.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Identidade cultural, identidade nacional no
1989 Brasil, Tempo Social, Revista de Socologia/USp' So Paulo:29-
46, 1 O), 10. sem.
RAPHAEL, Freddy & HERBRICH-MARX, Genvieve. Le muse, provocation de
198 Ia mmoire. Ethnologie Franaise, Paris: 87-94, 170).
ROBINSON, Alma. The art repatriation dilemma. Museum News, Washington:
1980 55-59, 58 (4).
SCHLERETH,Thomas J. Cultural History and material eulture. Everyday life,
landseape and museums. Charlottesville, University Press of
Virginia.
VAN ALPHEN, Ernst. The Ohter within. In: CORBEY & LEERSSEN, eds., 1991:
1991 1-16.
WALSH,Kevin. Ibe representation of the pasto Museums and heritage in the
1992 post-modern world. London, Routledge.
WEINREICH,Peter. Psychodynamics of personal and social identity. ln: JACOB-
1983 SON-WIDDING, ed., 1983:159-185.
222
Museologia, operando em fina sintonia, esto expondo e restituindo comunidade
as informaes. recuperadas em escavaes sistemticas na rea e desta forma
garantindo a preservao da sua memria.
UNITERMOS:Arqueologia Histrica. Exposio museolgica. Fazendas de caf, Vale do Paraba, R]., sc.
XIX. Modo de vida burgus.
An. MP. NS 1: pg. 179, 1993.
Symptoms of a bourgeois way of life, 19th.- century Paraba Valley: Fazenda So
Fernando, Vassouras Rj (An archaeological and museological exploration).
Tnia Andrade Lima, Maria Cristina Oliveira Bruno e Marta Ferreira Reis da Fonseca
In the scope of an archaeological project that deals with the arising of a boumeois
way of life, which came before the establishment of the bourgeoisie itself, cottee
f'lantations from middle 19th century in the Vale do Paraba are being investigated.
The Fazenda So Fernando, locate:!in Massambar, county of Vassouras, RJ,as one
of the most conspicuous examples of the rise and fali process of the monoculture in the
valley, has been worked out to become one of the places to disclose such pasto
Archaeology and Museology{ acting in concert, are displaying and returning to the
community ali data recovered through sistematic diggings, thus assuring the
preservation of the valley's memory.
UNITERMS:Historical Archaeology. Museological exhibit. Coffee plantations, 19th.- century Paraba
Valley, RJ. Bourgeois way of life.
An. MP, NS 1: pg. 179, 1993
A problemtica da identidade cultural nos museus: de objetivo (d ao) a objeto (de
conheci mento).
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Os museus so comumente tidos como poderosos meios de definir e reforar
identidades. O autor prope que ao invs de tais fins ideolgicos, eles considerem a
identidade como objeto de anlise crtica e compreenso histrica. Aponta vrios
traos problemticos da identidade, sobretudo na sua estrutura de processo
scio-cultural e nas suas funes contrastivas. A seguir, examina criticamente
respostas usuais dos museusa reivindicaes de identidade (em especial as que
pressupem a superioridade do conhecimento interior ou tnico sobre o acadmico).
Postula-sea necessidade da abordagem crtica, sempre, como nica forma de
afrontar o tema da alteridade, independentemente das lutas pelo monoplio da
verdade. Traa-se, por fim um paralelo entre a mostra museolgica e o conceito de
"texto discursivo", formulado pela Histria e pela Antropologia: as exposies no
devem ser nem uma representao absoluta, nem uma expresso subjetiva; mas uma
construo dialtica, contigente e contestvel - capaz de tertilizar.
UNITERMOS:Identidade (processo scio-cultural). Museologia. Museus: funes ideolgicas versus criticas.
An.MP, NS 1: pg. 207, 1993.
Museums and the problematic concept of cultural identity: from objective (of action) to
object (of knowledgel.
Ulpiano T. Bezerra de Meneses
Museums are usually seen as valuable means to attain and reinforce cultural identities.
The author argues that, instead of such ideological goals, the)' should consider identity
as an object of critica I analysis and historical understanding. SeveraI problematic
features are pointed out, mainly identity's nature as a socio-cultural process and its
contrastive functions. Current answers of museumsto identity claims are then critically
analyzed (particularly the alleged preeminence of inner or ethnic knowledge over
308
ocodemic knowledge). In ony cose, critico I opprooch is required as the only woy to deol with
oIterity, regordless of struggles for monopolizing truth. A final porollel is
estoblished between museumdisploys ond the concept of "discursive text" os
developed in History ond Anthropology: exhibits should be token neither os on obsolute represento-
tion nor os a subjective expression, but os o contingent ond
contestoble - ond 011the woy fertile - diolecticol construction.
UNITERMS: Identity(socioculturalprocess).Museology.Museums:ideologicalversuscriticalfunctions.
An. MP,NS1: pg. 207, 1993.
309
También podría gustarte
- El MUNDO ES - Alfredo Cristiani Confirma La Autoría de La Matanza de Los Jesuitas en El Salvador - 05 06 2016Documento17 páginasEl MUNDO ES - Alfredo Cristiani Confirma La Autoría de La Matanza de Los Jesuitas en El Salvador - 05 06 2016eliseoajAún no hay calificaciones
- Diplomacia Comercial (Henry Kissinger - Capitulo 7 - Resumen)Documento3 páginasDiplomacia Comercial (Henry Kissinger - Capitulo 7 - Resumen)Jesús PeñalozaAún no hay calificaciones
- El Tribunal de Los Vagos en La Ciudad de MéxicoDocumento18 páginasEl Tribunal de Los Vagos en La Ciudad de MéxicoMaríaCocteauAún no hay calificaciones
- Alemães, comida e Identidade: a construção da identidade étnica teuto-brasileira: VOLUME 3De EverandAlemães, comida e Identidade: a construção da identidade étnica teuto-brasileira: VOLUME 3Aún no hay calificaciones
- Giovanni SartoriDocumento4 páginasGiovanni SartoriJorge Otero Colciago100% (4)
- NATIVIDADE-TO:: PATRIMÔNIO DO BRASILDe EverandNATIVIDADE-TO:: PATRIMÔNIO DO BRASILAún no hay calificaciones
- Juntas VecinalesDocumento11 páginasJuntas VecinalesJeremy Castañeda GuerreroAún no hay calificaciones
- Discursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemDe EverandDiscursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemAún no hay calificaciones
- Transgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesDe EverandTransgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesAún no hay calificaciones
- Educação e condição humana na sociedade atual: Formação humana, formas de reconhecimento e intersubjetividade de grupoDe EverandEducação e condição humana na sociedade atual: Formação humana, formas de reconhecimento e intersubjetividade de grupoAún no hay calificaciones
- Tecendo Histórias: Memória, Verdade e Direitos HumanosDe EverandTecendo Histórias: Memória, Verdade e Direitos HumanosAún no hay calificaciones
- Autonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisDe EverandAutonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisAún no hay calificaciones
- As Representações Da Morte Na Literatura GregaDe EverandAs Representações Da Morte Na Literatura GregaAún no hay calificaciones
- Por uma pedagogia da dignidade: Memórias e reflexões sobre a experiência escolarDe EverandPor uma pedagogia da dignidade: Memórias e reflexões sobre a experiência escolarAún no hay calificaciones
- Feminismos favelados: Uma experiência no Complexo da MaréDe EverandFeminismos favelados: Uma experiência no Complexo da MaréAún no hay calificaciones
- As "dobras" e as "des(re)territorializações" no ensino de Filosofia: a "escrita de si" e a singularidade dos sujeitos-professoresDe EverandAs "dobras" e as "des(re)territorializações" no ensino de Filosofia: a "escrita de si" e a singularidade dos sujeitos-professoresAún no hay calificaciones
- Performance, performatividade e identidadesDe EverandPerformance, performatividade e identidadesAún no hay calificaciones
- Identidades Legitimamente Diversas: Um Estudo pela Visibilidade Inclusiva da Transgeneridade e da Não Binariedade de GenêroDe EverandIdentidades Legitimamente Diversas: Um Estudo pela Visibilidade Inclusiva da Transgeneridade e da Não Binariedade de GenêroAún no hay calificaciones
- Transcartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralDe EverandTranscartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralAún no hay calificaciones
- Festas, dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo: OlaegbékizombaDe EverandFestas, dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo: OlaegbékizombaAún no hay calificaciones
- Encontros filosóficos - composições sobre o pensamento: Volume 1De EverandEncontros filosóficos - composições sobre o pensamento: Volume 1Aún no hay calificaciones
- Transversalidade de gênero e raça: com abordagem interseccional em políticas públicas brasileirasDe EverandTransversalidade de gênero e raça: com abordagem interseccional em políticas públicas brasileirasAún no hay calificaciones
- Contatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaDe EverandContatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaAún no hay calificaciones
- A Fala do Infante: voz crítica e criativa: estudo antropológico com a criança periféricaDe EverandA Fala do Infante: voz crítica e criativa: estudo antropológico com a criança periféricaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- A Serviço de Deus?: a resistência da bancada da bíblia ao reconhecimento legal da família homoafetivaDe EverandA Serviço de Deus?: a resistência da bancada da bíblia ao reconhecimento legal da família homoafetivaAún no hay calificaciones
- A potência das margens: Corpo, gênero, raça e decolonialidade do poderDe EverandA potência das margens: Corpo, gênero, raça e decolonialidade do poderAún no hay calificaciones
- Opressão De Mulheres E Meninas Baseada No Sexo Biológico FemininoDe EverandOpressão De Mulheres E Meninas Baseada No Sexo Biológico FemininoAún no hay calificaciones
- Políticas da performatividade: Levantes e a biopolíticaDe EverandPolíticas da performatividade: Levantes e a biopolíticaAún no hay calificaciones
- Autorretrato: gênero, identidade e liberdadeDe EverandAutorretrato: gênero, identidade e liberdadeAún no hay calificaciones
- O Outro sou eu Também a Formação de Professores das Classes Populares em Diálogo com Paulo Freire e Enrique DusselDe EverandO Outro sou eu Também a Formação de Professores das Classes Populares em Diálogo com Paulo Freire e Enrique DusselCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- A era da iconofagia: Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e culturaDe EverandA era da iconofagia: Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e culturaAún no hay calificaciones
- Educação Em Direitos Humanos E DiversidadeDe EverandEducação Em Direitos Humanos E DiversidadeAún no hay calificaciones
- Educação Científica: Outras Vertentes do ConhecimentoDe EverandEducação Científica: Outras Vertentes do ConhecimentoAún no hay calificaciones
- As Adolescências Periféricas:: Uma Pesquisa-Ação Integral/TranspessoalDe EverandAs Adolescências Periféricas:: Uma Pesquisa-Ação Integral/TranspessoalAún no hay calificaciones
- Joguem como Homens!: Masculinidades, Liberdade de Expressão e Homofobia Em estádios de Futebol, no Estado do MaranhãoDe EverandJoguem como Homens!: Masculinidades, Liberdade de Expressão e Homofobia Em estádios de Futebol, no Estado do MaranhãoAún no hay calificaciones
- Ganchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroDe EverandGanchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroAún no hay calificaciones
- Fronteiras em Movimento: modos de criação e organização no Projeto Magdalena – rede internacional de mulheres na cena contemporâneaDe EverandFronteiras em Movimento: modos de criação e organização no Projeto Magdalena – rede internacional de mulheres na cena contemporâneaAún no hay calificaciones
- Ideologia do branqueamento nas telenovelas brasileirasDe EverandIdeologia do branqueamento nas telenovelas brasileirasAún no hay calificaciones
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)De EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Aún no hay calificaciones
- A poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoDe EverandA poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoAún no hay calificaciones
- Dar a vida e cuidar da vida: Feminismo e Ciências SociaisDe EverandDar a vida e cuidar da vida: Feminismo e Ciências SociaisAún no hay calificaciones
- Os homens mudaram: 150 variáveis que ajudam a entender esta mudançaDe EverandOs homens mudaram: 150 variáveis que ajudam a entender esta mudançaAún no hay calificaciones
- Música, Juventude e a Construção da Identidade de Gênero no Espaço EscolarDe EverandMúsica, Juventude e a Construção da Identidade de Gênero no Espaço EscolarAún no hay calificaciones
- Estudos e Abordagens sobre Metodologias de Pesquisa e Ensino – Dança, Arte e EducaçãoDe EverandEstudos e Abordagens sobre Metodologias de Pesquisa e Ensino – Dança, Arte e EducaçãoAún no hay calificaciones
- Dinâmicas Religiosas Transnacionais e Processos Identitários: Olhares Sócio-Antropológicos e Multiculturais Sobre o Fenômeno ReligiosoDe EverandDinâmicas Religiosas Transnacionais e Processos Identitários: Olhares Sócio-Antropológicos e Multiculturais Sobre o Fenômeno ReligiosoAún no hay calificaciones
- Quem Somos? Diálogos sobre o Conhecimento e a Realidade Cognitiva do SujeitoDe EverandQuem Somos? Diálogos sobre o Conhecimento e a Realidade Cognitiva do SujeitoAún no hay calificaciones
- A Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesDe EverandA Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesAún no hay calificaciones
- Ensayo HISTORIA DE LA ARQUITECTURADocumento4 páginasEnsayo HISTORIA DE LA ARQUITECTURAYulissa Asmat CharcapeAún no hay calificaciones
- Prueba de Diagnòstico de Estudios Sociales 19-20Documento3 páginasPrueba de Diagnòstico de Estudios Sociales 19-20gwma400% (1)
- La Revista Del Foment. Otoño 2016Documento80 páginasLa Revista Del Foment. Otoño 2016arturoherreroAún no hay calificaciones
- Clase 1 Macro SectoresDocumento43 páginasClase 1 Macro SectoresPablo OshiroAún no hay calificaciones
- Examen FinalDocumento40 páginasExamen FinalRosa Victoria Fiestas BayonaAún no hay calificaciones
- Teculután Consulta Municipal Noviembre 2014Documento2 páginasTeculután Consulta Municipal Noviembre 2014Andrés CabanasAún no hay calificaciones
- Crisis Bancaria de 1994Documento12 páginasCrisis Bancaria de 1994Mary CaracheAún no hay calificaciones
- Manual ConvivenciaDocumento32 páginasManual ConvivenciaAngela DiazAún no hay calificaciones
- Historia de La Guardia CivilDocumento4 páginasHistoria de La Guardia CivilMarco Antonio Gonzales BorjaAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales - LA COLONIA - Material de EstudioDocumento2 páginasCiencias Sociales - LA COLONIA - Material de EstudioIvan Angarita CastillaAún no hay calificaciones
- Guia Tematica de Derecho LaboralDocumento3 páginasGuia Tematica de Derecho LaboralJorgeAnibalAún no hay calificaciones
- Manual de Procedimientos para La Delimitacion y Codificacion PDFDocumento11 páginasManual de Procedimientos para La Delimitacion y Codificacion PDFAngel MPAún no hay calificaciones
- Pliego de Reclamos Del Sindicato Unitario de Trabajadores en La Educacion de La Region ArequipaDocumento3 páginasPliego de Reclamos Del Sindicato Unitario de Trabajadores en La Educacion de La Region ArequipaDaniel Hector Pari VilcaAún no hay calificaciones
- La Reforma Educativa UmgDocumento3 páginasLa Reforma Educativa UmgJorge De LeónAún no hay calificaciones
- Invasión Rusia UcraniaDocumento36 páginasInvasión Rusia UcraniaAlfredo LunaAún no hay calificaciones
- Convocatoria Ii Jornada Trinacional de Historia Perú Chile Bolivia - 2013Documento12 páginasConvocatoria Ii Jornada Trinacional de Historia Perú Chile Bolivia - 2013Alba Choque PorrasAún no hay calificaciones
- Puno - 3º Primaria - Personal Social - Semana19 - Prof - MariliaDocumento2 páginasPuno - 3º Primaria - Personal Social - Semana19 - Prof - MariliaAbdul Ortega ChujjarAún no hay calificaciones
- Periodico Nación Nº35Documento16 páginasPeriodico Nación Nº35doramoreno25387Aún no hay calificaciones
- Hildebrandt 2021-06-04Documento32 páginasHildebrandt 2021-06-04Carlos RosasAún no hay calificaciones
- El Estudio de Las Políticas Públicas: Un Acercamiento A La DisciplinaDocumento20 páginasEl Estudio de Las Políticas Públicas: Un Acercamiento A La DisciplinaitzelAún no hay calificaciones
- Resolucion de Alcaldia 228 - 2016 Reconocer Asctra AcoraDocumento2 páginasResolucion de Alcaldia 228 - 2016 Reconocer Asctra AcoraVictor Espino GutierrezAún no hay calificaciones
- Plan Plurinacional de EducaciÓn en Derechos Humanos 2012Documento42 páginasPlan Plurinacional de EducaciÓn en Derechos Humanos 2012Anibal AGuilarAún no hay calificaciones
- Casanova - Stefan ZweigDocumento94 páginasCasanova - Stefan Zweigmartin sierraAún no hay calificaciones
- Cuadro de NecesidadesDocumento6 páginasCuadro de NecesidadesGuillermo Rafael Choque EscalanteAún no hay calificaciones
- 1 Memorial InicialDocumento3 páginas1 Memorial InicialEríck Aléjandro CabAún no hay calificaciones