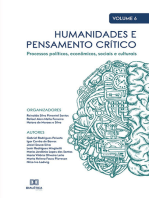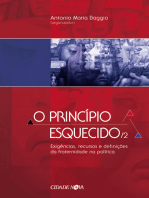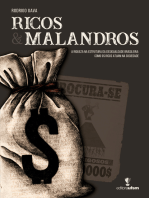Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Direitos - Sociais - Telles
Cargado por
Maristela Barbosa0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
110 vistas12 páginasTítulo original
Direitos_sociais - Telles
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
110 vistas12 páginasDireitos - Sociais - Telles
Cargado por
Maristela BarbosaCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Direitos sociais: afinal do que se trata?
Vera da Silva Telles *
Texto apresentado como conferência proferida em 12 de maio de 1997, na
abertura do Módulo Direitos Sociais do evento Direitos Humanos no Limiar do
Século XXI realizado no Centro Cultural Maria Antônia.
Direitos sociais: afinal do que se trata? A pergunta não é retórica. Tampouco
trivial. Significa, de partida, tomar a sério as incertezas dos tempos que correm.
Pois falar dos direitos sociais significa falar dos dilemas talvez os mais cruciais
do mundo contemporâneo. Suscita a pergunta - e dúvida - sobre as
possibilidades de um mundo mais justo e mais igualitário. Pergunta que não é de
hoje, certamente. Mas que ganha uma especial urgência diante da convergência
problemática entre uma longa história de desigualdades e exclusões; as novas
clivagens e diferenciações produzidas pela reestruturação produtiva e que
desafiam a agenda clássica de universalização de direitos; e os efeitos ainda
não inteiramente conhecidos do atual desmantelamento dos (no Brasil) desde
sempre precários serviços públicos, mas que nesses tempos de neoliberalismo
vitorioso, ao mesmo tempo em que leva ao agravamento da situação social das
maiorias, vem se traduzindo em um estreitamento do horizonte de legitimidade
dos direitos e isso em espécie de operação ideológica pela qual a falência dos
serviços públicos é mobilizada como prova de verdade de um discurso que
opera com oposições simplificadoras, associando Estado, atraso e anacronismo,
de um lado, e, de outro, modernidade e mercado. Operação insidiosa que elide a
questão da responsabilidade pública. E descaracteriza a própria noção de
direitos, desvinculando-os do parâmetro da justiça e da igualdade, fazendo-os
deslizar em um campo semântico no qual passam a ser associados a custos e
ônus que obstam a modernização da economia, ou então a privilégios
corporativos que carregam anacronismos que precisam ser superados para que
o mercado possa realizar plenamente suas supostas virtudes civilizadoras.
Mas ao se abrir este texto de uma forma interrogativa, não se está aqui
sugerindo ou solicitando definições modelares que apazigúem, nem que seja um
pouco, nossas próprias perplexidades. Na verdade, é um modo de propor o
debate que recusa exatamente a facilidade das definições. Não porque eu seja
contrá-ria à precisão das palavras, mas porque essas definições no mais das
vezes deixam escapar o que talvez mais nos interesse compreender.
Então vejamos: poderia lembrar que desde a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, da ONU, em 1948, os direitos sociais foram reconhecidos, junto com
os direitos civis e os direitos políticos, no elenco dos direitos humanos: direito ao
trabalho, direito ao salário igual por trabalho igual, direito à previdência social em
caso de doença, velhice, morte do arrimo de família e desemprego involuntário,
direito a uma renda condizente com uma vida digna, direito ao repouso e ao
lazer (aí incluindo o direito a férias remuneradas) e o direito à educação. Todos
esses são considerados direitos que devem caber a todos os indivíduos
igualmente, sem distinção de raça, religião, credo político, idade ou sexo. Com
variações, esses direitos foram incorporados, no correr deste século, sobretudo
após a Segunda Guerra Mundial, nas constituições da maioria dos países, ao
menos do mundo ocidental. No Brasil, essa concepção universalista de direitos
sociais foi incorporada muito tardiamente, apenas em 1988, na nova
Constituição, que é uma referência política importante em nossa história recente,
que foi celebrada (e hoje é contestada) como referência fundadora de uma
modernidade democrática que prometia enterrar de vez 20 anos de governos
militares. É importante saber que esses direitos estão inscritos na lei, e é
importante lembrar que, em algum momento na história dos países, fizeram
parte dos debates e embates que mobilizaram homens e mulheres por
parâmetros mais justos e mais igualitários no ordenamento do mundo.
Mas se tomarmos essas definições, por assim dizer canônicas, dos direitos
sociais como ponto de partida para avaliar os tempos que correm, então não
teríamos muitas alternativas a não ser constatar (mais uma vez!) a brutal
defasagem entre os princípios igualitários da lei e a realidade das desigualdades
e exclusões - e nesse caso, falar dos direitos sociais seria falar de sua
impotência em alterar a ordem do mundo, impotência que se arma no
descompasso entre a grandiosidade dos ideais e a realidade bruta das
discriminações, exclusões e violências que atingem maiorias. Além disso, e
talvez o mais importante, não poderíamos ir muito além do que constatar - e
lamentar - os efeitos devastadores das mudanças em curso no mundo
contemporâneo, demolindo direitos que, em que pesem todos os seus limites,
mal ou bem garantem prerrogativas que compensam a assimetria de posições
nas relações de trabalho e poder, e fornecem proteções contra as incertezas da
economia e os azares da vida. Nesse caso, além da impotência para fazer frente
aos rumos excludentes que vem tomando o reordenamento da economia e do
Estado no mundo inteiro, falar dos direitos sociais também significaria falar de
uma perda.
Suspeito no entanto que as idéias de perda e impotência montam uma
armadilha que trava o pensamento por mantê-lo encerrado nos termos como as
coisas vêm se armando à nossa volta, como o mundo vem se ordenando. Por
mais que as evidências de perda e impotência possam ser ou se mostrem
fundadas e demonstráveis pela análise sociológica e política (o que, diga-se
logo, não é tão certo assim como muitas vezes se supõe), o problema está
quando se transformam essas evidências em pressuposto, algo como solo
epistemológico a partir do qual o pensamento se estrutura, pois aí a reflexão
termina por esbarrar nas fronteiras que nosso próprio presente impõe - e, nesse
caso, nada poderia opor, a não ser a denúncia indignada, o discurso edificante
ou então as frágeis certezas da análise esclarecida que são, elas sim,
impotentes para dissolver ou ao menos abalar essa convicção que vem
ganhando corações e mentes de que estamos diante de processos inexoráveis e
que a pobreza é inevitável dados os imperativos da nova revolução tecnológica
que se impõe pelos circuitos de uma economia globalizada. Em outros termos,
ao se fixar nas evidências de perda e impotência dos direitos sociais, há o risco
de demissão do pensamento, para não dizer da ação, por conta de uma espécie
de aprisionamento no próprio presente, sem abertura para um campo de
possíveis. E se assim for, uma discussão sobre os direitos sociais não poderia
mesmo ir além da justa indignação contra a miséria do mundo ou então a
repetição do discurso sociológico que explica a ordem de suas causalidades e
determinações.
Mas então talvez seja necessário deslocar o terreno da discussão e repensar os
direitos sociais não a partir de sua fragilidade ou da realidade que deixaram de
conter, mas a partir das questões que abrem, dos problemas que colocam. É
certo que falar dos direitos sociais é um modo de se apropriar da herança (uma
certa herança) da modernidade e de assumir a promessa de igualdade e justiça
com que acenaram. Mas ao invés de tomar isso como dado plenamente
objetivado na história e agora traído ou negado pela fase atual de reestruturação
do capitalismo mundial, trata-se de coisa muito diferente - trata-se de tomar os
direitos sociais como cifra pela qual problematizar os tempos que correm e, a
partir daí, quem sabe, formular as perguntas que correspondam às urgências
que a atualidade vem colocando.
É preciso dizer desde logo que o texto que segue não tem a pretensão de
responder às inquietações até aqui comentadas e certamente está aquém das
questões acima formuladas. Pode ser entendido como uma primeira tentativa,
não mais do que um exercício (ainda tateante) de reflexão para pôr à prova o
sentido crítico e questionador que a linguagem dos direitos contém - ou pode
conter, desde que a consideremos como um
modo de descrever e julgar a (des)ordem do mundo que põe em cena os
dilemas e aporias das sociedades modernas e da nossa própria atualidade.
···
Seria possível dizer que, nessa encruzilhada de alternativas incertas em que
estamos mergulhados, as mudanças em curso (no Brasil e no mundo) fazem vir
à tona esses dilemas e aporias. Pois se bem é certo que os modelos conhecidos
de proteção social vêm sendo postos em xeque pelas atuais mudanças no
mundo do trabalho e que conquistas sociais vêm sendo demolidas pela onda
neoliberal no mundo inteiro, também é verdade que esse questionamento e essa
desmontagem reabrem as tensões, antinomias e contradições que estiveram na
origem dessa história. E fazem ver as difíceis (e frágeis) relações entre o mundo
social e o universo público da cidadania, na disjunção, sempre reaberta, entre a
ordem legal que promete a igualdade e a reposição das desigualdades e
exclusões na trama das relações sociais; entre a exigência ética da justiça e os
imperativos de eficácia da economia; entre universos culturais e valorativos de
coletividades diversas e a lógica devastadora do mercado. Mas essa disjunção -
as aporias das sociedades modernas, como diz Castel (1994) - estrutura o
terreno dos conflitos que inauguraram a moderna questão social, reatualizam, e
sempre reatualizaram, a exigência de direitos e reabrem, e sempre reabriram, a
tensão ou antinomia entre as esperanças de um mundo que valha a pena ser
vivido e a lógica excludente de modernizações que desestruturam formas de
vida e bloqueiam perspectivas de futuro.
Lembrar isso não é uma trivialidade, pois esses conflitos, longe de se reduzirem
ao puro confronto de interesses, colocam em pauta o difícil e polêmico problema
da igualdade e justiça em uma sociedade dividida internamente e fraturada por
suas contradições e antinomias. Por isso mesmo, ao revés de um determinismo
econômico e tecnológico hoje em dia mais do que nunca revigorado, será
importante reativar o sentido político inscrito nos direitos sociais. Sentido político
ancorado na temporalidade própria dos conflitos pelos quais as diferenças de
classe, de gênero, etnia, raça ou origem se metamorfoseiam nas figuras
políticas da alteridade - sujeitos que se fazem ver e reconhecer nos direitos
reivindicados, se pronunciam sobre o justo e o injusto e, nesses termos,
reelaboram suas condições de existência como questões que dizem respeito às
regras da vida em sociedade.
Colocar os direitos na ótica dos sujeitos que os pronunciam significa, de partida,
recusar a idéia corrente de que esses direitos não são mais do que a resposta a
um suposto mundo das necessidades e das carências. Pois essa palavra que
diz o justo e o injusto está carregada de positividade, é através dela que os
princípios universais da cidadania se singularizam no registro do conflito e do
dissenso quanto à medida de igualdade e à regra de justiça que devem
prevalecer nas relações sociais. Para além das garantias formais inscritas na lei,
os direitos estruturam uma linguagem pública que baliza os critérios pelos quais
os dramas da existência são problematizados em suas exigências de eqüidade e
justiça. E isso significa um certo modo de tipificar a ordem de suas causalidades
e definir as responsabilidades envolvidas, de figurar diferenças e desigualdades
e de conceber a ordem das equivalências que a noção de igualdade e de justiça
sempre coloca, porém como problema irredutível à equação jurídica da lei, pois
pertinente ao terreno conflituoso e problemático da vida social (Ewald, 1986).
Mas isso também significa dizer que, ao revés da versão hoje corrente que os
reduz a meras defesas corporativas de interesses, em torno dos vários sujeitos
que reivindicam direitos abrem-se horizontes de possibilidades que, desenhados
a partir da singularidade de cada um, não se deixam encapsular nas suas
especificidades pois a conquista e o reconhecimento de direitos têm o sentido da
invenção das regras da civilidade e da sociabilidade democrática. Ou, para
colocar em outros
termos, e mais sintonizados com debates recentes, têm o sentido de inventar,
em uma negociação sempre difícil e sempre reaberta, as regras da vida em
sociedade.
É nesse registro que se pode perceber a abismal distância entre a linguagem
dos direitos e o discurso humanitário sobre os "deserdados da sorte" que
constrói a figura do pobre carente e fraco, vítima e sofredor das desgraças da
vida, fixados nas determinações inescapáveis das leis da necessidade. Mas
também a diferença em relação ao discurso técnico que fixa a pobreza como
elenco de problemas identificáveis pela análise sociológica e postos como alvos
de um possível gerenciamento político tecnicamente fundado.
De um lado, essa palavra, individual ou coletiva, que diz o justo e o injusto, é
também a palavra pela qual os sujeitos que a pronunciam se nomeiam e se
declaram como iguais, igualdade que não existe na realidade dos fatos, mas que
se apresenta como uma exigência de equivalência na sua capacidade de
interlocução pública, de julgamento e deliberação em torno de questões que
afetam suas vidas - e essa exigência tem o efeito de desestabilizar e subverter
as hierarquias simbólicas que os fixam na subalternidade própria daqueles que
são privados da palavra ou cuja palavra é descredenciada como pertinente à
vida pública do país. O que instaura a polêmica e o dissenso sobre as regras da
vida em sociedade não é portanto o reconhecimento da espoliação dos
trabalhadores, a miséria dos sem-terra, o desamparo das populações nos
bairros pobres das grandes cidades, ou ainda as humilhações dos negros
vítimas de discriminações seculares, a inferiorização das mulheres, o genocídio
dos índios e também a violência sobre aqueles que trazem as marcas da
inferioridade na sua condição de classe, de cor ou idade. Em todas essas
negatividades o discurso humanitário pode seguir tranqüilo, é seu terreno por
excelência - aqui as identidades de cada uma na geometria simbólica dos
lugares são apenas confirmadas. O que provoca escândalo e desestabiliza
consensos estabelecidos é quando esses personagens comparecem na cena
política como sujeitos portadores de uma palavra que exige o seu
reconhecimento - sujeitos falantes, como define Rancière em livro recente
(1995), que se pronunciam sobre questões que lhes dizem respeito, que exigem
a partilha na deliberação de políticas que afetam suas vidas e que trazem para a
cena pública o que antes estava silenciado, ou então fixado na ordem do não-
pertinente para a deliberação política.
Mas é isso também que desestabiliza cenários predefinidos que fixam essas
figuras como "problemas sociais" plenamente objetivados na ordem de suas
determinações e causalidades. Ao revés dessa suposta objetividade do
problema social, passível de ser gerenciado tecnicamente, na voz desses
sujeitos se enunciam outros mundos possíveis de valores, de aspirações e
esperanças, de desejos e vontades de ultrapassagem das fronteiras reais e
simbólicas dos lugares predefinidos em suas vidas, sonhos de outros mundos
possíveis, mundos que valham a pena ser vividos. Por isso mesmo, se a
reivindicação de direitos está longe de ser a tradução de um suposto mundo das
necessidades, tampouco pode ser reduzida simplesmente ao jogo dos
interesses, pois os direitos estruturam uma linguagem pela qual esses sujeitos
elaboram politicamente suas diferenças e ampliam o "mundo comum" (1) da
política ao inscrever na cena pública suas formas de existência, com tudo o que
elas carregam em termos de cultura e valores, esperanças e aspirações, como
questões que interpelam o julgamento ético e a deliberação política.
É nessa dimensão transgressora dos direitos que vale a pena se deter, pois é
aqui, nesse registro, que talvez tenhamos uma medida para avaliar os dilemas
contemporâneos.
Se é certo que a reivindicação por direitos faz referência aos princípios
universais da igualdade e da justiça, esses princípios não existem como
referências de consenso e convergência de opiniões. Ao contrário disso é o que
define o terreno do conflito no qual as disputas e antagonismos, divergências e
dissensos, ganham visibilidade e inteligibilidade na cena pública. De um lado,
essa referência não apenas torna visível a distância entre a promessa igualitária
acenada pela lei e a realidade das desigualdades, discriminações e violências
rotineiras, mas permite que essa distância seja nomeada como problema que
exige o julgamento e a deliberação política. Ainda, e o mais importante: o
peculiar à presença desses sujeitos falantes na cena política é que colocam à
prova os princípios universais da cidadania, já que essa presença desestabiliza
consensos, e abrem o conflito e o dissenso em torno mesmo da medida de
igualdade e da regra de justiça nas relações sociais - essa medida é o terreno
do conflito, conflito que se dá exatamente em torno dos termos pelos quais essa
medida é ou pode ser estabelecida. Para usar novamente os termos de
Rancière, esse é o terreno do desentendimento, que não é a mesma coisa que
simples diferenças de opinião, de pontos de vista ou mesmo de interesses. Pois
é um dissenso sobre o que conta e deve ser levado em conta no mundo comum
da política, sobre quem fala e quem tem ou não a prerrogativa da palavra, sobre
a pertinência ou não pertinência das questões e realidades nomeadas por essa
palavra.
Quando os trabalhadores sem-terra fazem as ocupações de terra, instauram um
conflito que é mais do que o confronto de interesses, pois abrem a polêmica - e
o dissenso - sobre os modos como se entende ou pode se entender o princípio
da propriedade privada e seus critérios de legitimidade, sobre o modo como se
entende ou pode se entender a dimensão ética envolvida na questão social e
sua pertinência na deliberação sobre políticas que afetam suas vidas, sobre o
modo como se entende ou pode se entender a questão da reforma agrária, suas
relações com uma longa história de iniqüidades e o que significa ou pode
significar para o futuro deste país. Quando o movimento negro reivindica
tratamento igual e protesta, por exemplo, e só para ficarmos em alguns casos
mais conhecidos, contra o racismo embutido em uma letra de música popular,
em cenas de novelas televisivas ou em imagens veiculadas pela propaganda,
abre a polêmica sobre o que se entende ou pode se entender sobre o princípio
da igualdade perante a lei, sobre as questões e temas que devem ser levados
em conta na deliberação política, sobre a partilha entre o que é da ordem da
natureza das coisas e que por isso mesmo está aquém do juízo ético sobre as
regras de eqüidade e reciprocidade nas relações sociais e as questões que
fazem parte da invenção humana e por isso mesmo dizem respeito às
arbitrariedades e iniqüidades inscritas nessas relações. Quando as populações
indígenas reivindicam a demarcação de suas terras, colocam em pauta os
modos como se entende ou pode se entender os princípios constitucionais que
garantem os direitos indígenas, mas também abrem o debate sobre a validade
de outros universos culturais, cognitivos e valorativos, e rompem a unanimidade
construída em torno das concepções convencionais de nação e território,
progresso e desenvolvimento, tradição e modernidade. Quando finalmente os
trabalhadores defendem os direitos do trabalho, abrem uma disputa sobre o que
se entende ou pode se entender sobre modernização e modernidade, ao colocar
em pauta, contra o primado da racionalidade instrumental do mercado para a
qual os direitos aparecem no registro de custos e ônus a serem eliminados, a
exigência de uma regulação das relações de trabalho mediadas por categorias,
também elas em disputa, de eqüidade e justiça.
Esses exemplos - outros poderiam ser referidos-, comentados aqui de forma
muito sumária e certamente muito aquém das questões que cada qual propõe
ao debate, nos fazem ver que o "mundo comum" tal como definido por Hannah
Arendt, construído em torno daquilo sobre o qual falamos, sobre o que nos
articula e interessa em uma interlocução possível, não é dado pela "opinião
comum" ou o consenso; a cifra desse "comum" é, ao contrário, as polêmicas e
divergências, os conflitos e litígios que põem em cena aquilo que concerne -
exatamente porque problemático - à vida em sociedade. Daí ser possível dizer
que esse "comum" - instável porque sempre sujeito a novos questionamentos e
sobretudo ao imponderável da história e à indeterminação da política - é
construído pelas questões e temas em torno dos quais o conflito se arma, e a
divergência e a polêmica se estruturam. É nessa tessitura polêmica da vida
política que se pode ter, talvez, uma senda para compreender nossa própria
contemporaneidade, pelas questões que abre e pelos horizontes de possíveis
que descortina.
E é também por referência a esse "mundo comum" ampliado pela presença
polêmica de sujeitos falantes, que talvez se tenha uma chave para compreender
o sentido da forte alteridade política, que não é a mesma coisa que o princípio
liberal da pluralidade, e que vai além da genérica asserção do "reconhecimento
das diferenças". Se as questões até aqui colocadas fazem algum sentido, então
seria possível dizer que essa alteridade é construída pela mediação das esferas
públicas democráticas, nas quais essa palavra que se pronuncia sobre a ordem
do mundo se faz audível e reconhecível na cena política. Mas essa palavra não
exige apenas o reconhecimento da diferença dos que a pronunciam. Essa
palavra significa sobretudo o alargamento do "mundo comum" pelas linhas de
horizontes abertas por um leque multifacetado de problemas, dilemas, dramas,
histórias e tradições que singularizam formas de existência. E isso significa dizer
que na ótica desses "sujeitos falantes", os dilemas atuais se especificam, se
singularizam, em torno de feixes diferenciados e heterogêneos de problemas, de
questões, de desafios - feixes que põem em foco, e sob o foco do debate,
diferentes modos de descrever o país em sua história e tradições, nas
possibilidades e limites inscritos no presente, mas também nos horizontes
alternativos do futuro (2). Daí que essa palavra tem também o poder de tornar
possíveis e relevantes coisas que antes não existiam em nosso horizonte
cognitivo e valorativo; para usar os termos de Rorty (1992), essa palavra permite
outras "descrições do mundo" e amplia nossos "repertórios de descrições
alternativas".
Assim, se antes foi enfatizada a dimensão transgressora dos direitos, a questão
agora pode ser recolocada, pois essa é uma dimensão inscrita na própria
palavra que pronuncia os direitos: a palavra é transgressora (ou pode ser,
quando não se trata apenas da palavra instrumental que tão-somente mobiliza
os dados postos pelas circunstâncias para garantir sua eficácia imediata -
racionalidade instrumental, poderíamos aqui dizer, apenas para delimitar o
terreno em que essa discussão está sendo proposta), não só pelos efeitos
desestabilizados de lugares e consensos estabelecidos, mas pelo seu efeito de
"redescrever o mundo" e tornar possíveis "descrições alternativas" que ampliam
nossas referências cognitivas e valorativas (tornam relevantes ou possíveis
coisas que antes não existiam), que desestabilizam o já sabido ou posto como
evidência que não suscita a reflexão pois apenas existente na nossa paisagem
cotidiana.
···
Sob esse prisma, dessa dimensão transgressora da palavra, que se pode talvez
avaliar o efeito devastador da atual corrosão dos direitos. A destituição dos
direitos - ou, no caso brasileiro, a recusa de direitos que nem mesmo chegaram
a se efetivar - significa também a erosão das mediações políticas entre o mundo
social e as esferas públicas, de tal modo que estas se descaracterizam como
esferas de explicitação de conflitos e dissenso, de representação e negociação;
é por via dessa destituição e dessa erosão, dos direitos e das esferas de
representação, que se ergue esse consenso que parece hoje quase inabalável,
de que o mercado é o único e exclusivo princípio estruturador da sociedade e da
política, que diante de seus imperativos não há nada a fazer a não ser a
administração técnica de suas exigências, que a sociedade deve a ele se ajustar
e que os indivíduos, agora desvencilhados das proteções tutelares dos direitos,
podem finalmente provar suas energias e capacidades empreendedoras.
Se é verdade que os direitos supõem uma palavra, o encolhimento da cena
política tem o efeito também de tornar invisíveis, não existentes ou não-
legítimas, as realidades que essa palavra nomeia e as alternativas com que
acena. E é sobre esse silenciamento que se ergue a convicção de que estamos
diante de processos inexoráveis regidos pelas leis inescapáveis da economia
que, tal como a lei da natureza (ou as leis de Deus), se subtraem à ação e à
vontade política. Repetindo a formulação precisa e incisiva de Laymert dos
Santos (1997), a frase "não há alternativas", repetida por neoliberais em todas
as circunstâncias e lugares para expressar essa inevitabilidade, "sempre soa
como um ponto final no debate e, ao mesmo tempo, como uma espécie de
isenção de responsabilidade pelos efeitos das medidas tomadas, por mais
negativas e predatórias que elas sejam. Os que resistem ou se opõem, os
inconformados ou excluídos, são, assim, desafiados, com cinismo e desprezo, a
construírem alternativas e a comprovarem a sua consistência".
Discutir as circunstâncias que produzem esse silêncio e a invisibilização de
alternativas possíveis está além dos limites deste texto. Mas é quase impossível
deixar de notar que, em terras brasileiras, o assim chamado neoliberalismo
consegue a façanha de conferir título de modernidade ao que há de mais
atrasado na sociedade brasileira, um privativismo selvagem e predatório, que faz
do interesse privado a medida de todas as coisas, que recusa a alteridade e
obstrui, por isso mesmo, a dimensão ética da vida social por via da recusa dos
fundamentos da responsabilidade pública e obrigação social. Se a pobreza
brasileira é e sempre foi espantosa, e só vem aumentando sob o efeito
conjugado de recessão econômica, reestruturação produtiva e desmantelamento
dos desde sempre precários serviços públicos, o que impressiona é o modo
como é figurada - como problema que não diz respeito aos parâmetros que
regem a vida em sociedade, e não coloca em questão as regras de eqüidade e
justiça nas relações sociais.
As figuras dessa pobreza despojada de dimensão ética e transformada em
natureza nos dão uma chave para compreender o modo como a questão social
é tematizada no horizonte simbólico da sociedade brasileira: não há autoridade
pública neste país que não proponha o problema em termos de uma exigência
de igualdade e justiça social. No entanto, é um debate inteiramente montado
sobre as evidências mais tangíveis da chamada pobreza absoluta, esses
deserdados da sorte e infelizes do destino que já estão - ou parecem estar - fora
do contrato social. Com isso, é neutralizado o problema das iniqüidades e
privilégios que se inscrevem no modo mesmo como as relações sociais são
ordenadas. Tendo como referência quase exclusiva esses que já estão "fora",
todo o problema da igualdade parece se esgotar em garantir que essa gente
tenha acesso aos "mínimos vitais de sobrevivência". Poder-se-ia dizer que é
uma noção pré-social de igualdade, pois remetida a algo como as leis naturais
da vida e da morte, esse pressuposto e suposto do qual depende a vida em
sociedade, mas que ainda não configura propriamente uma vida social. Menos
do que um problema propriamente mundano (que é político) da convivência
social, é uma noção de igualdade que opera com uma medida que diz respeito
aos mínimos vitais dos quais depende a reprodução da espécie - uma medida
de igualdade que não diz respeito ao contrato social, mas a algo anterior a ele,
aos imperativos da sobrevivência. É uma definição de igualdade e de justiça que
não constrói a figura do cidadão. Mas sim a figura do pobre: figura desenhada
em negativo, pela sua própria carência. É sobretudo uma definição de igualdade
e justiça que constrói uma figura da pobreza despojada de dimensão ética.
Rebatidas para o terreno das necessidades vitais - modo peculiar de alojar a
pobreza no terreno da natureza - as noções de justiça e de igualdade são
desfiguradas, pelo menos nos termos como foram definidas enquanto valores
fundadores da modernidade: a igualdade é definida por referência às
necessidades vitais, esse marco incontornável da vida perante o qual - assim
como ocorre com a morte - todos são não apenas iguais, mas, como lembra
Hannah Arendt, rigorosamente idênticos. Com essa medida - absoluta, medida
de vida e de morte - não há propriamente o problema do julgamento, da escolha
e dos critérios de discernimento entre o justo e o injusto. Há apenas o imperativo
inarredável da sobrevivência.
É essa figuração da pobreza que é demolida - ou ao menos questionada - em
cenários públicos abertos à palavra do direito (3). E talvez aqui o leitor possa
perceber qual foi na verdade o percurso deste texto ao discutir a questão dos
direitos sociais sob a ótica da palavra que os pronuncia, e não sob a ótica da
carência e da pobreza desvalida, como é tão comum quando o tema entra em
debate. Mas essa é uma figuração (e tradição) que vem sendo reatualizada.
Hoje, no Brasil, a nossa velha e persistente pobreza ganha contemporaneidade
e ares de modernidade, por conta dos novos excluídos pela reestruturação
produtiva. Mas não só por isso: lançando mão dessa ficção regressiva do
mercado auto-regulável, nossas elites podem ficar satisfeitas com sua
modernidade e dizer, candidamente, que a pobreza é lamentável, porém
inevitável dados os imperativos da modernização tecnológica em uma economia
globalizada. Entre os "resíduos" do atraso de tempos passados e as
determinações da moderna economia integrada nos circuitos globalizados do
mercado, a pobreza é projetada para fora de uma esfera propriamente política
de deliberação, já que pertinente às supostas leis inescapáveis da economia.
Para retomar uma questão colocada páginas atrás, se as aporias da sociedade
moderna se expressam e se fazem ver em torno da questão social, são elas
também que nos dão uma pista para compreender essa espécie de
esquizofrenia de que padece a sociedade brasileira, nas imagens fraturadas de
si própria, entre a de uma sociedade organizada que promete a modernidade e
seu retrato em negativo feito de anomia, de violência e atraso; entre a
celebração das virtudes modernizadoras do mercado e de seu ethos
empreendedor que nos promete tirar da tacanhice própria dos países periféricos,
e o projeto "social" como uma esfera que escapa à ação responsável porque
inteiramente dependente dessa versão moderna das leis da natureza hoje
associadas à economia e seus imperativos de crescimento.
Mas há também uma outra maneira de colocar a questão, abrindo uma
interrogação sobre as circunstâncias que ainda é preciso decifrar e compreender
nas quais essa palavra que diz o direito e se pronuncia sobre a ordem do mundo
pode ser ou está sendo reinventada e reelaborada. E é esse na verdade o
sentido forte da pergunta do início deste texto ao propor uma indagação sobre
os direitos que seja também uma interrogação sobre campos de experiências
possíveis. Nesses tempos incertos em que o consenso conservador que tomou
conta da cena pública tenta fazer crer que estamos diante de processos
inelutáveis e inescapáveis e em que o encolhimento da política mostra seus
efeitos no fechamento de horizonte de possíveis, no aprisionamento do presente
e no encapsulamento das pessoas em universos privados e privatizados de vida,
nesses tempos, enfim, o deciframento dos campos de experiências possíveis
não é pouca coisa. E certamente não é tarefa fácil. Pois parte considerável dos
dilemas dos tempos atuais está na dificuldade de decifrar e nomear processos
societários. Há quem, no cenário das mudanças atuais, fale de uma sociedade
que perdeu sua lisibilidade, por conta de uma espécie de disjunção entre as
formas (categorias, representações, tipificações) de nomeação/descrição do real
e a emergência de novas formas de diferenciação e hierarquização social (4),
mas também novas configurações da experiência do mundo e novas situações
que escapam a categorias estabelecidas. E se assim for, é questão inteiramente
pertinente aos direitos pois os direitos são também uma forma de dizer o mundo,
de formalizar suas experiências e o jogo das relações humanas.
Enfrentar as questões acima exigiria muito mais espaço do que é possível nos
limites deste artigo. Vale no entanto notar - e enfatizar - que são desafios como
esses que suscitam o pensamento - como diz Hannah Arendt (1981),
pensamento não é a mesma coisa que conhecimento (das causalidades, das
determinações), é o exercício da faculdade de discernimento (e juízo ético) na
nossa experiência de mundo, que é exigida pelas perplexidades que
compartilhamos com nossos semelhantes e faz apelo à imaginação sem a qual
não conseguiríamos sair dos limites que o nosso presente nos impõe e que o já-
sabido prescreve nos envolvendo na muda tranqüilidade daquilo que nos é
desde sempre familiar. Talvez seja nisso que possamos encontrar a
convergência entre a atividade do pensamento e os direitos como palavra que
introduz fissuras na ordem das coisas, acenando com outros mundos possíveis -
mundos que valham a pena ser vividos.notas
Notas
1 Está se tomando aqui a noção de mundo comum no sentido de Hannah
Arendt, diferente portanto de uma versão comunitária hoje muito corrente da
política, ou da também freqüente noção de consenso como pressuposto da
política. Para Arendt, o mundo comum supõe a existência de esferas públicas, é
construído pela pluralidade da ação e do discurso e diz respeito às referências,
partilhadas e não necessariamente consensuais, cognitivas e valorativas dos
"negócios humanos", como questões que articulam os indivíduos num horizonte
comum e numa interlocução possível. Além da sua obra mais conhecida, A
Condição Humana (1981), há também reflexões preciosas em seus comentários
sobre Lessing (1974). Volta para o texto
2 Essas questões foram tratadas por mim em outro texto (1996). Volta para o texto
3 Essas questões foram desenvolvidas por mim em outro trabalho (1992). Volta
para o texto
4 Essa é uma questão especialmente enfatizada por Rosanvallon e Fitoussi
(1996). Volta para o texto
Bibliografia
ARENDT, Hannah. "De l'Humanité dans de 'Sombre Temps'", in Vies Politiques.
Paris, Gallimard, 1974.
__________. La Vie de l'Ésprit 1. La Pensée. Paris, PUF, 1981.
__________. A Condição Humana. São Paulo, Forense-Universitária, 1981.
CASTEL, Robert. Les Métamorphoses de la Question Sociale. Paris, Fayard,
1995.
EWALD, François. L' Etat Providence. Paris, Grasset, 1986.
RANCIÈRE, Jacques. La Mésentente. Paris, Galilée, 1995.
RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Lisboa, Editorial
Presença, 1992.
ROSANVALLON, Pierre e FITOUSSI, Jean-Paul. La Nouvelle Âge des
Inegalités. Paris, Seuil, 1996.
SANTOS, Laymert Garcia. Texto apresentado no Seminário Internacional A
Construção Democrática em Questão, promovido pelo Núcleo de Estudos dos
Direitos da Cidadania - Nedic, na Universidade de São Paulo, 25 de abril de
1997.
TELLES, Vera da Silva. A Cidadania Inexistente: Incivilidade e Pobreza. Tese de
doutorado, USP, 1992.
__________. "As Novas Faces da Cidadania: uma Introdução", in Novas Faces
da Cidadania: Identidades Políticas e Estratégias Culturais. Cadernos de
Pesquisa, Cebrap, 1996, pp.1-7.
* Vera da Silva Telles é professora do Departamento de Sociologia da FFLCH-
USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos dos Direitos da Cidadania - Nedic.
Fonte: Biblioteca Virtual da USP.
También podría gustarte
- CadernoDoAluno 2014 Vol1 Baixa LC LinguaPortuguesa EM 3S PDFDocumento90 páginasCadernoDoAluno 2014 Vol1 Baixa LC LinguaPortuguesa EM 3S PDFLena DiasAún no hay calificaciones
- Reflexões Sobre as Causas da Liberdade e da Opressão SocialDe EverandReflexões Sobre as Causas da Liberdade e da Opressão SocialAún no hay calificaciones
- Direitos, modernidade e pós-modernidadeDocumento277 páginasDireitos, modernidade e pós-modernidadeTiago LouroAún no hay calificaciones
- CÂNDIDO, A. O Direito À LiteraturaDocumento12 páginasCÂNDIDO, A. O Direito À LiteraturaAlexandre Soares100% (11)
- Em Que Mundo VivemosDocumento138 páginasEm Que Mundo VivemosMarleide HatschbachAún no hay calificaciones
- Paulo Bonavides - Teoria ConstDocumento141 páginasPaulo Bonavides - Teoria ConstZack_Zodiaco_8687100% (3)
- Conservadorismo CatolicoDocumento335 páginasConservadorismo CatolicoEric Sociologia100% (1)
- HONNETH, Axel. Luta Por ReconhecimentoDocumento147 páginasHONNETH, Axel. Luta Por Reconhecimentocalendargirl86% (7)
- Humanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: - Volume 6De EverandHumanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: - Volume 6Aún no hay calificaciones
- Teoria Moderna do Direito: Fundamentos, Crise e PerspectivasDe EverandTeoria Moderna do Direito: Fundamentos, Crise e PerspectivasAún no hay calificaciones
- Contrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em criseDe EverandContrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em criseAún no hay calificaciones
- LIVRO Geografia e Giro DescolonialDocumento389 páginasLIVRO Geografia e Giro DescolonialPaula Regina CordeiroAún no hay calificaciones
- Direitos humanos e acesso à literaturaDocumento6 páginasDireitos humanos e acesso à literaturaWilberthSalgueiroAún no hay calificaciones
- A Entrevista Como Técnica Da Pesquisa Qualitativa Nas Ciências SociaisDocumento11 páginasA Entrevista Como Técnica Da Pesquisa Qualitativa Nas Ciências SociaisMaristela BarbosaAún no hay calificaciones
- Do Homem Sem Qualidades À Espera de GodotDocumento310 páginasDo Homem Sem Qualidades À Espera de GodotClaudio DuarteAún no hay calificaciones
- Canoas, v. 8, N. 1, 2020: Orlando Villas Bôas FilhoDocumento21 páginasCanoas, v. 8, N. 1, 2020: Orlando Villas Bôas FilhoRafaelBluskyAún no hay calificaciones
- 2021 - Democracias Frágeis - Ana Raquel Gonçalvez MonizDocumento29 páginas2021 - Democracias Frágeis - Ana Raquel Gonçalvez MonizRodrigo Santos Neves100% (1)
- Direitos Sociais, VERA DA SILVA TELLESDocumento12 páginasDireitos Sociais, VERA DA SILVA TELLESLíliam NogueiraAún no hay calificaciones
- Direitos Sociais Afinal Do Que Se TrataDocumento12 páginasDireitos Sociais Afinal Do Que Se TrataRosy Andrade100% (1)
- TELLES, Vera. Questão Social - Afinal, Do Que Se Trata.Documento11 páginasTELLES, Vera. Questão Social - Afinal, Do Que Se Trata.ElainePiccolo100% (1)
- 1999 Questao Social1 Pobreza TellesDocumento17 páginas1999 Questao Social1 Pobreza TellesAlison OliveiraAún no hay calificaciones
- Prova Cultura e SociedadeDocumento15 páginasProva Cultura e SociedadedieneAún no hay calificaciones
- Cristina Paniago - Meszaros e A Incontrolabilidade Do CapitalDocumento161 páginasCristina Paniago - Meszaros e A Incontrolabilidade Do CapitalkalikoskyAún no hay calificaciones
- Artigo (1999) - Experiencias de Educação em Direitos Humanos Na América Latina - o Caso Brasileiro - 1999 - Vera Maria CandauDocumento29 páginasArtigo (1999) - Experiencias de Educação em Direitos Humanos Na América Latina - o Caso Brasileiro - 1999 - Vera Maria CandaugeorginabomfimAún no hay calificaciones
- A Montanha Que Devemos ConquistarDocumento13 páginasA Montanha Que Devemos Conquistarrafaelle1959Aún no hay calificaciones
- Todos Os Direitos Por Todos e para TodosDocumento9 páginasTodos Os Direitos Por Todos e para TodosTawila ChagualaAún no hay calificaciones
- Elites e Movimentos SociaisDocumento8 páginasElites e Movimentos SociaisManel AlmeidaAún no hay calificaciones
- 2º Período de Direito "B"Documento15 páginas2º Período de Direito "B"Matheus Silveira Alves LimaAún no hay calificaciones
- Cultura Política BrasilDocumento47 páginasCultura Política BrasilRodrigo FaroAún no hay calificaciones
- Valéria - Democracia em DisputaDocumento24 páginasValéria - Democracia em DisputaValeria GiannellaAún no hay calificaciones
- Pensando um socialismo democrático para a contemporaneidadeDocumento3 páginasPensando um socialismo democrático para a contemporaneidadeAlexandre HeckerAún no hay calificaciones
- Teoria Geral Da ConstituiçãoDocumento49 páginasTeoria Geral Da ConstituiçãoEriko RibeiroAún no hay calificaciones
- Fichamento Seminário III - CAP. IVDocumento7 páginasFichamento Seminário III - CAP. IVBrenda LimaAún no hay calificaciones
- Para Uma Concepcao Intercultural Dos Direitos HumanosDocumento59 páginasPara Uma Concepcao Intercultural Dos Direitos HumanosJackson WinstonAún no hay calificaciones
- O Princípio Esquecido 2: Exigências, recursos e definições da fraternidade na políticaDe EverandO Princípio Esquecido 2: Exigências, recursos e definições da fraternidade na políticaAún no hay calificaciones
- Encontro 1 - O Direito À Literatura, Antonio CandidoDocumento20 páginasEncontro 1 - O Direito À Literatura, Antonio CandidoFernandaAún no hay calificaciones
- Síntese de Uma Discussão (Ainda) Sem SoluçãoDocumento6 páginasSíntese de Uma Discussão (Ainda) Sem SoluçãoFernanda CecíliaAún no hay calificaciones
- Ricos & Malandros: A questão da riqueza na estrutura da desigualdade brasileira: como os ricos atuam na sociedadeDe EverandRicos & Malandros: A questão da riqueza na estrutura da desigualdade brasileira: como os ricos atuam na sociedadeAún no hay calificaciones
- Vera Telles Pobreza CidadaniaDocumento14 páginasVera Telles Pobreza CidadaniarodolfoarrudaAún no hay calificaciones
- Texto Aula Direito Admnistrativo Leo 5Documento12 páginasTexto Aula Direito Admnistrativo Leo 5matheusphilipe.555Aún no hay calificaciones
- A Democracia Finita e Infinita NancyDocumento9 páginasA Democracia Finita e Infinita NancySil Deluchi100% (1)
- A Miséria Do Direito - Ordem Jurídica, Dominação e Pensamento CríticoDocumento150 páginasA Miséria Do Direito - Ordem Jurídica, Dominação e Pensamento CríticoFernando MorariAún no hay calificaciones
- Segunda Edição - Carolina Catini - PrivatizaçãoDocumento52 páginasSegunda Edição - Carolina Catini - PrivatizaçãoBruno PeresAún no hay calificaciones
- Lutas de Classes Nas Cidades BrasileirasDocumento11 páginasLutas de Classes Nas Cidades BrasileirasruasaraAún no hay calificaciones
- Boaventura de Sousa Santos - para Uma Concepção Multicultural de Direitos HumanosDocumento28 páginasBoaventura de Sousa Santos - para Uma Concepção Multicultural de Direitos HumanosBeatriz MouraAún no hay calificaciones
- TeoricoDocumento24 páginasTeoricoFernanda SousaAún no hay calificaciones
- Texto 08 - o Social e o Político Na Transição PósDocumento18 páginasTexto 08 - o Social e o Político Na Transição Pósadriel.brAún no hay calificaciones
- Maria Celia PaoliDocumento27 páginasMaria Celia PaoliGabriel CostaAún no hay calificaciones
- Direitos Sociais: Conceito e AplicabilidadeDe EverandDireitos Sociais: Conceito e AplicabilidadeAún no hay calificaciones
- Trabalho - O Estado de Direito Do Século XXI e As Formas de Tratamento de ConflitosDocumento8 páginasTrabalho - O Estado de Direito Do Século XXI e As Formas de Tratamento de ConflitosPaulo PintoAún no hay calificaciones
- Uma estrutura para política radical na era da globalizaçãoDocumento20 páginasUma estrutura para política radical na era da globalizaçãoAnderson EAngela de MacêdoAún no hay calificaciones
- Democracai Como Valor Universal - Carlos NelsonDocumento9 páginasDemocracai Como Valor Universal - Carlos NelsonJersey OliveiraAún no hay calificaciones
- AJUP Seminários 17 Discutindo A Assessoria Juridica Popular 2Documento31 páginasAJUP Seminários 17 Discutindo A Assessoria Juridica Popular 2Luiz Otávio RibasAún no hay calificaciones
- Direitos Fundamentais e Estado SocialDocumento7 páginasDireitos Fundamentais e Estado SocialBrenda LimaAún no hay calificaciones
- Chasin - Democracia Política e Emancipação HumanaDocumento6 páginasChasin - Democracia Política e Emancipação HumanaWenderson RibeiroAún no hay calificaciones
- Capital social: teoria e práticaDocumento211 páginasCapital social: teoria e práticaAna Flávia de AlmeidaAún no hay calificaciones
- Mészáros e a Incontrolabilidade do CapitalDocumento161 páginasMészáros e a Incontrolabilidade do CapitalSandorlei SilvaAún no hay calificaciones
- Virtudes republicanas e a reconstrução dos laços sociaisDocumento2 páginasVirtudes republicanas e a reconstrução dos laços sociaisVincius BalestraAún no hay calificaciones
- Sumário - "A LEI E A ORDEM" - Ralf Dahrendorf (Banco de Idéias Nº 50)Documento20 páginasSumário - "A LEI E A ORDEM" - Ralf Dahrendorf (Banco de Idéias Nº 50)Instituto LiberalAún no hay calificaciones
- FARIA, Vilmar E. 50 Anos de Urbanização No BrasilDocumento22 páginasFARIA, Vilmar E. 50 Anos de Urbanização No BrasilGilberto Lima Martins100% (1)
- Materialismo histórico: as múltiplas determinações históricasDocumento8 páginasMaterialismo histórico: as múltiplas determinações históricasMislene VieiraAún no hay calificaciones
- Conferência Ceif CepDocumento17 páginasConferência Ceif CepJúlio BernardesAún no hay calificaciones
- (Casalta Nabais) Que Sistema Fiscal para o Século XXIDocumento43 páginas(Casalta Nabais) Que Sistema Fiscal para o Século XXIBN GamesAún no hay calificaciones
- A Revolucao de 64 e Outros Passados paraDocumento16 páginasA Revolucao de 64 e Outros Passados paraDeborah Barbosa GonzalezAún no hay calificaciones
- Calmon de Passos - 2009 - Há Um Novo Moderno Processo Civil Brasileiro - Revista Eletrônica Sobre A Reforma Do EstadoDocumento9 páginasCalmon de Passos - 2009 - Há Um Novo Moderno Processo Civil Brasileiro - Revista Eletrônica Sobre A Reforma Do EstadoMax WormAún no hay calificaciones
- Crise do Estado de Bem-Estar Social: uma análise da literatura internacionalDocumento23 páginasCrise do Estado de Bem-Estar Social: uma análise da literatura internacionalAntonia Mara NevesAún no hay calificaciones
- Fluxo Ju Iza Do Especial CriminalDocumento2 páginasFluxo Ju Iza Do Especial CriminalMaristela BarbosaAún no hay calificaciones
- A Controvertida Questão Do Poder de Investigação Do Ministério PúblicoDocumento28 páginasA Controvertida Questão Do Poder de Investigação Do Ministério PúblicoMaristela BarbosaAún no hay calificaciones
- Texto 199868563 PDFDocumento90 páginasTexto 199868563 PDFEduardo SampaioAún no hay calificaciones
- Violência No Ambiente Escolar - Desafio Da Educação Na Sociedade PósmodernaDocumento9 páginasViolência No Ambiente Escolar - Desafio Da Educação Na Sociedade PósmodernaMaristela BarbosaAún no hay calificaciones
- Relatório ICJBrasil - 1º Semestre - 2013Documento32 páginasRelatório ICJBrasil - 1º Semestre - 2013Maristela BarbosaAún no hay calificaciones
- Dilemas da redistribuição e do reconhecimentoDocumento9 páginasDilemas da redistribuição e do reconhecimentoRayza SarmentoAún no hay calificaciones
- ChesnaisDocumento17 páginasChesnaisizaiasnovaesAún no hay calificaciones
- Construindo um conceito sociológico de guetoDocumento10 páginasConstruindo um conceito sociológico de guetothomascortadoAún no hay calificaciones
- Apresentação Cap I CastelDocumento5 páginasApresentação Cap I CastelMaristela BarbosaAún no hay calificaciones
- Kuhn, Thomas. A Estrutura Das Revoluções CientíficasDocumento11 páginasKuhn, Thomas. A Estrutura Das Revoluções CientíficasMaristela BarbosaAún no hay calificaciones
- RÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeDocumento18 páginasRÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeJuliana GelbckeAún no hay calificaciones
- Arquitetura Moderna em Mato GrossoDocumento456 páginasArquitetura Moderna em Mato GrossoGustavoAugusVidrihAún no hay calificaciones
- Esporte Espetáculo e Esporte Empresa - Marcelo Weishaupt ProniDocumento275 páginasEsporte Espetáculo e Esporte Empresa - Marcelo Weishaupt ProniVictor AugustoAún no hay calificaciones
- Damião ExperiençaDocumento15 páginasDamião ExperiençaBolívar HaeserAún no hay calificaciones
- Pastoreio na Pós-ModernidadeDocumento7 páginasPastoreio na Pós-ModernidadeLeandro VieiraAún no hay calificaciones
- Gênero e Colonialidade: em Busca de Chaves de Leitura e de Um Vocabulário Estratégico DescolonialDocumento27 páginasGênero e Colonialidade: em Busca de Chaves de Leitura e de Um Vocabulário Estratégico DescolonialThaysa Andréia100% (1)
- Deslocamentos entre arte e vidaDocumento16 páginasDeslocamentos entre arte e vidalu'zAún no hay calificaciones
- A Tal Polivalência Interface Do Conhecimento Ou Especificidade PDFDocumento8 páginasA Tal Polivalência Interface Do Conhecimento Ou Especificidade PDFlacan5Aún no hay calificaciones
- Sexo AncestrofuturistaDocumento326 páginasSexo AncestrofuturistaLu RondonAún no hay calificaciones
- Modernização sem democracia: os desafios da democracia brasileiraDocumento13 páginasModernização sem democracia: os desafios da democracia brasileiraFernanda FariaAún no hay calificaciones
- NICOLAY, Ricardo. Dois Séculos de Fado: Uma Proposta Cartográfica. (XXDocumento10 páginasNICOLAY, Ricardo. Dois Séculos de Fado: Uma Proposta Cartográfica. (XXRicardo Nicolay100% (1)
- Terapias Pós Modernas Perspectiva MultidisciplinarDocumento30 páginasTerapias Pós Modernas Perspectiva MultidisciplinarRegina SantosAún no hay calificaciones
- Retomada de RepertórioDocumento13 páginasRetomada de RepertórioVictor LimaAún no hay calificaciones
- Etica e Alteridade PDFDocumento143 páginasEtica e Alteridade PDFStael MouraAún no hay calificaciones
- Análise das modalidades tradicional e moderna da experiênciaDocumento8 páginasAnálise das modalidades tradicional e moderna da experiênciaMariana MadeiraAún no hay calificaciones
- Jose Miguel Nanni SoaresDocumento289 páginasJose Miguel Nanni SoaresRaymond LullyAún no hay calificaciones
- Lourenço Mutarelli: entre a imagem e a palavraDocumento137 páginasLourenço Mutarelli: entre a imagem e a palavraRafaelaferAún no hay calificaciones
- Renan Victor Boy BacelarDocumento14 páginasRenan Victor Boy BacelarlilisluzAún no hay calificaciones
- Um Vade Mecum Da Arquitetura No BRDocumento14 páginasUm Vade Mecum Da Arquitetura No BRSandro LimaAún no hay calificaciones
- Crise Epistemológica Nas Ciencias Sociais - Psicólogo Alan Ferreira Dos SantosDocumento11 páginasCrise Epistemológica Nas Ciencias Sociais - Psicólogo Alan Ferreira Dos SantosCorpoSemÓrgãosAún no hay calificaciones
- Marx, colonialismo e racismo na modernidadeDocumento1 páginaMarx, colonialismo e racismo na modernidadeDriEiko Eiko MatsumotoAún no hay calificaciones
- Mudancas Sociais Populacao e Espaco Buscando RenovDocumento14 páginasMudancas Sociais Populacao e Espaco Buscando RenovgersoneunimAún no hay calificaciones
- Entre Os Movimentos Da Vanguarda EuropéiaDocumento3 páginasEntre Os Movimentos Da Vanguarda Européiaprof_chocoAún no hay calificaciones
- Regionalismo e crítica: uma relação conturbada na literatura brasileiraDocumento18 páginasRegionalismo e crítica: uma relação conturbada na literatura brasileiraCamila DalcinAún no hay calificaciones