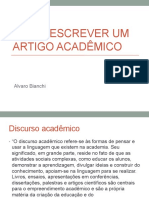Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Chartier Editado
Cargado por
Danielle FerreiraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Chartier Editado
Cargado por
Danielle FerreiraCopyright:
Formatos disponibles
1
O PROFESSOR
Renomado historiador francs, nascido em Lyon, Roger Chartier Professor
do Collge de France, Diretor da Ecole des Hautes tudes en Sciences
Sociales e Professor Visitante de Histria da University of Pennsylvania.
Esteve no Brasil pela primeira vez em 1993, a convite do Centro de Pesquisa
e Documentao de Histria do Brasil (CPDOC) para seu aniversrio.
vencedor de diversos prmios internacionais e recebeu o ttulo de Doutor
Honoris Causa pela Universidade Carlos III (Madri). Autor de diversos livros e
artigos, sua produo no Brasil conhecida principalmente pelas
publicaes do livro sobre Histria e Histria da Leitura, bem como pela
organizao da coleo Histria da Vida Privada.
O CURSO
Prope uma leitura e anlise sobre alguns conceitos fundamentais no
trabalho de Pierre Bourdieu para ser utilizado em novas pesquisas nas reas
das cincias humanas. Abordar os seguintes conjuntos conceituais:
1. Sociologia e histria;
2. Habitus e estratgia;
3. Os campos culturais;
4. Dominao e violncia simblica.
SUGESTES DE LEITURA PARA O CURSO
Livro: Trabalhar com Bourdieu. Organizao: Pierre Encreve e Rose-
Maria Lagrave;
Livro: O socilogo e o historiador (Pierre Bourdieu, Roger Chartier).
Traduo: Guilherme Joo de Freitas Teixeira. Editora Autntica;
Livro: Mditations pascaliennes. Autor: Pierre Bourdieu. Editora
Points.
Pierre Bourdieu, Esboo de Auto-Anlise, Companhia das Letras, 2005.
Artigo de Loic Waquant, O legado sociolgico de Pierre Bourdieu; Revista de
Sociologia e Poltica, 19, nov. 2002, pp. 95-110.
PROGRAMAO
1 Dia (14 de agosto): Sociologia e histria;
Pierre Bourdieu: Entrevista. Sobre o esprito da pesquisa, Tempo
Social, vol.17 nmero 1, So Paulo Junho 2005, PDF.
Pierre Bourdieu: O socilogo e o historiador, Autntica, 2010: Captulos 1-
3, pp. 15-56.
Roger Chartier: O socilogo e a Histria , in O socilogo e o historiador,
pp. 87-115.
Entrevista: A sociologia como esporte de combate. Trechos sobre
reproduo e capital cultural
2
www.youtube.com/watch?v=zO4QuCSMO0k
www.youtube.com/watch?v=cJ4ru3tOEFM
Bourdieu sobre Foucault y e a experincia pessoal
www.youtube.com/watch?v=aQE66bbUAXE
2 Dia (15 de agosto): Habitus e estratgia;
Pierre Bourdieu: O socilogo e o historiador, Captulo 4, Habitus e
campo , pp. 57-68.
Pierre Bourdieu, De la rgle aux stratgies, in Choses dites, pp. 75-92 [tr.
Coisas ditas, Brasiliense,2004].
Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Conclusion,
pp. 543-564 [tr. A Distino : critiqua social do jugalmento, Editora Zouk,
2007]
Roger Chartier, Defesa e ilustrao da noo de representao.
Entrevista: La Distincin, Parte 1 e 2 www.youtube.com/watch?v=Grvbu-
AlBYo
3 Dia (16 de agosto): Os campos culturais;
Pierre Bourdieu, O socilogo e o historiador, Captulo 5, Manet, Flaubert e
Michelet, pp. 69-86.
Pierre Bourdieu, Lecture, lecteurs, lettrs, littrature, in Choses dites, pp.
132-143 [tr. Coisas ditas, Brasiliense,2004].
Pierre Bourdieu, Os usos sociais da cincia, Editora UNESP, 2003, pp. 17-
43.
Roger Chartier, O passado no presente.
Roger Chartier, Le monde conomique lenvers, in Travailler avec
Bourdieu, pp.249-255 [tr. Trabalhar com Bourdieu, dir. Pierre Encrev e
Rose-Marie Lagrave, Bertrand Brasil,2005]
4 Dia (17 de agosto): Dominao e violncia simblica.
Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Chap. 1, Une image grossie,
pp. 11-59 [tr. A Dominao masculina, Bertrand Brasil, 1999].
Pierre Bourdieu, Mditatiuons pascaliennes, Chap. 6, Ltre social, le
temps et le sens de lexistence, pp. 247-288 [tr. Meditaes pascalianas,
Bertrand Brasil, 2001].
Roger Chartier, A nova historial cultural existe?
Entrevista: La dominacin masculina, Parte 1 e 2.
www.youtube.com/watch?v=QALw668Qtbc
Entrevista Pierre Bourdieu (sic), Parte 5, com Maria Andrea Loyola
www.youtube.com/watch?v=-DKnzx_-jw0
3
DEFESA E ILUSTRAO DA NOO DE REPRESENTAO
Com o decorrer dos anos, a noo de representao quase veio a designar por si s a
histria cultural. Nesse sentido, me parece necessrio comear a olhar para algumas das
crticas dirigidas ao uso historiogrfico da noo de representao tal como eu propus com
muitos outros.
A primeira crtica epistemolgica e considera que se enfatizarmos demais as
representaes coletivas ou individuais, nos afastaramos da realidade histrica pura e
simples como disse Ricardo Garca Crcel. Segundo ele, as representaes sempre
substituem os mitos histricos ao conhecimento historiogrfico e, portanto, submetem os
cidados da atualidade aos prejuzos e manipulaes dos atores do passado. Nesse sentido, as
representaes do passado construdas ao longo do tempo nos fizeram seus protagonistas.
As representaes mentais sempre distorcem, ocultam ou manipulam o que foi e esta a razo
pela qual focalizar-se sobre elas no pode seno abrir os caminhos do relativismo, do
ceticismo e das falsificaes. Para que possam exercer-se de maneira adequada a funo
crtica que inerente histria, os historiadores precisam se libertar das representaes
ilusrias ou manipuladoras do passado e estabelecer a realidade do que foi.
Uma segunda crtica metodolgica. por exemplo a que dirigiu Angelo Torre ao
meu trabalho em Quadreni Storici
1
, em 1995. Segundo Torre, dar nfase sobre o conceito de
representao, definir as representaes como um objeto histrico fundamental tem como
consequncia o esquecimento dos comportamentos concretos e concretamente observados e
considera como intil o estudo do mundo real. Da, uma histria, que ser supostamente a
minha, que absorve as prticas dentro das representaes e que renuncia ao entrecruzamento
das fontes documentais, uma histria na qual o documento se encontra reduzido a sua nica
dimenso textual.
No quero agora repetir os argumentos da minha resposta publicada no ano seguinte
na mesma revista
2
em que destaquei a fraqueza das falsas oposies propostas por Angelo
Torre entre o mundo e as representaes (que tambm so realidades), ou entre a anlise das
situaes ou prticas concretas e o estudo dos textos (que as representando, as designam e
distorcem-nas). Queria somente recordar que a histria das representaes foi criticada como
uma histria idealista que supostamente ignora os comportamentos, as aes e as situaes
nas quais se produzem e se manifestam os fenmenos sociais.
Ento, a defesa de uma noo estigmatizada como relativista e idealista no fcil.
Porm, tentarei faz-la porque penso que no existe histria possvel se no se articulam as
representaes das prticas e as prticas da representao. Ou seja, qualquer fonte documental
que for mobilizada para qualquer tipo de histria nunca ter uma relao imediata e
transparente com as prticas que designa. Sempre a representao das prticas tm razes,
cdigos, finalidades e destinatrios particulares. Identific-los uma condio obrigatria
para entender as situaes ou prticas que so o objeto da representao.
Mas esta posio metodolgica no significa de modo algum a reduo, e menos
ainda a anulao das prticas nos discursos e as representaes que as descrevem, as
prescrevem, as probem ou as organizam. Tampouco implica uma renncia inscrio social
1
TORRE, Angelo. "Percorsi della pratica. 1966-1995", Quaderni Storici, n. 90, a. XXX, n. 3, 1995, p. 799-829.
2
CHARTIER, Roger. Rappresentazione della Pratica, Pratica della Rappresentazione, Quaderni Storici, n. 92, a.
XXXI, n. 2, 1996, p. 487-493.
4
tanto dos esquemas de percepo e juzo que so as matrizes das maneiras de dizer e fazer,
que designei em diversos textos mediante o termo de apropriao.
1. Definies.
Podemos iniciar com as definies antigas da palavra representao. O Dicionrio
da lngua francesa publicado por Furetire em 1690 identificava duas famlias de sentido,
aparentemente contraditrias, da palavra representao. O primeiro definido da seguinte
maneira: Representao: imagem que remete ideia e memria os objetos ausentes, e que
nos apresenta tais como so. Neste primeiro sentido, a representao nos permite ver o
objeto ausente (coisa, conceito ou pessoa), substituindo-o por uma imagem capaz de
represent-lo adequadamente. Representar, portanto, fazer conhecer as coisas mediatamente
pela pintura de um objeto, pelas palavras e gestos, por algumas figuras, por algumas
marcas tal como os enigmas, os emblemas, as fbulas, as alegorias. Representar, no sentido
poltico e jurdico, tambm ocupar o lugar de algum, ter em mos sua autoridade. Dali
surge a dupla definio dos representantes: aquele que representa numa funo pblica,
representa uma pessoa ausente que l deveria estar, e aqueles que so chamados a uma
sucesso estando no lugar da pessoa de quem tm o direito.
Esta acepo da representao est enraizada no sentido antigo e material da
representao entendida como a efgie colocada no lugar do corpo do rei morto em seu leito
funerrio. No se pode separar da teoria poltica identificada por Ernst Kantorowicz em seu
livro Os dois corpos do rei
3
, e cuja figura paroxstica se encontra nos funerais dos reis
ingleses e franceses entre os sculos XV e XVII. Neste momento-chave se produz,
efetivamente, uma inverso da presena do rei. Habitualmente, seu corpo fsico que dado a
ver aos seus sditos enquanto que seu corpo mstico e poltico, o que garante a continuidade
dinstica e a unidade do reino, est invisvel. Durante o funeral, no entanto, o corpo do rei
morto escondido na mortalha e no cadafalso, enquanto o seu corpo poltico, que nunca
morre, se torna visvel na imagem de madeira ou cera que o representa. Como indica
Furetire, quando se vai ver os prncipes mortos em seus leitos de morte, somente se v a
representao, a efgie. Assim, a distino radical entre o representado ausente e o objeto
que faz ele presente e nos permite conhec-lo. Assim, pois, se postula uma relao decifrvel
entre o signo visvel e o que ele representa.
Porm, este termo tambm tem uma segunda significao nos dicionrios franceses
do sculo XVII: Representao, diz-se, no Palcio, como a exibio de algo, o que introduz
a definio de representar como comparecer pessoalmente e exibir as coisas. A
representao aqui a demonstrao de uma presena, a apresentao pblica de uma coisa
ou de uma pessoa. a coisa ou a pessoa mesma que constitui sua prpria representao. O
referente e sua imagem formam o corpo, so uma nica coisa, aderem um ao outro:
Representao, diz-se s vezes das pessoas vivas. Diz-se de um semblante grave e majestoso:
Eis uma pessoa de bela representao.
Para a lngua castelhana, o Tesouro de la lngua castelhana de Covarrubias,
publicado em 1611
4
, no menciona mais do que a primeira famlia de sentido: Representar:
fazermos presente alguma coisa com palavras ou figuras que se fixam em nossa imaginao.
Da, o significado jurdico do verbo (Representar, estar no lugar de outro, como se fosse o
mesmo, para represent-lo em todas as suas aes e direitos) e os sentidos teatrais das
3
Trad. em portugus: KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos Do Rei : um estudo sobre a teologia poltica
medieval. Companhia das Letras, 1998. So Paulo-SP.
4
COVARRUBIAS, Sebastin de, Tesoro de la lengua castellana, o espaola. Madrid, Luis Sanchez, 1611.
5
palavras vinculadas como representar: Representao, a comdia ou tragdia, ou
Representantes, os comediantes, porque um representa o rei, e o faz como se o mesmo
estivesse presente; outro o gal, outro a dama, etc..
Mais tarde, no quinto tomo do Dicionrio de Autoridades publicado em 1737, o
sentido de representar se subdivide, maneira de Futetire, entre fazer presente alguma
coisa, e uma acepo desconhecida de Covarrubias: exteriorizar alguma coisa, que existe,
ou que voc imagina. Se ligam assim duas sries de definies que supem, a primeira, a
ausncia da pessoa ou coisa representada e, a segunda, sua exibio por ela mesma:
Representao: significa tambm autoridade, dignidade, carter, ou recomendao da pessoa:
e assim se diz, Fulano um homem de representao em Madrid.
Na reflexo que empreendeu sobre a teoria da representao, desde o livro sobre
Pascal e a lgica de Port-Royal
5
at Pouvoirs de limage
6
e passando por Le Portrait du roi
7
,
Louis Marin sempre conservou unidas as duas definies desta noo. A primeira, sem
sombra de dvidas, atraiu mais intensamente sua ateno porque se inscreve na filiao direta
com a teoria representacional do signo elaborada pelos gramticos e lgicos de Port-Royal. Se
essa construo tem uma pertinncia particular, porque designa e articula as duas operaes
da representao quando faz presente aquilo que est ausente: Um dos dois modelos mais
operacionais construdos para explorar o funcionamento da representao moderna seja ela
lingustica ou visual o que prope a tomada de considerao da dupla dimenso de seu
dispositivo: na dimenso transitiva ou transparente do enunciado, toda representao
representa algo; na dimenso reflexiva, ou opacidade enunciativa, toda representao se
apresenta representando algo.
8
Ao apoiar-se sobre a construo efetuada, no corao do sculo XVII francs, pelos
lgicos de Port-Royal, Marin queria escapar dos anacronismos epistemolgicos e s suas
iluses retrospectivas. Aps considerar que a prpria teoria da representao tinha uma
histria, lia o desenvolvimento conceitual de Port-Royal como uma construo singular que
tomava por matriz da teoria do signo o modelo teolgico da Eucaristia. este modelo que, em
Le Portrait du roi, permite compreender como atua a representao do monarca em uma
sociedade crist. Como a Eucaristia, o retrato do rei, seja uma imagem ou um texto escrito, ,
ao mesmo tempo, a representao de um corpo histrico ausente, a fico de um corpo
simblico (o reino no lugar da Igreja) e a presena real de um corpo sacramental, visvel sob
as espcies que o dissimulam.
esse mesmo modelo eucarstico que d conta da teoria representacional do signo tal
como se enuncia no captulo IV da primeira parte da Lgica
9
de Port-Royal, Des ides des
choses, et des ides des signes, acrescentado edio de 1683, vinte anos depois da primeira,
publicada em 1662. Depois de recordar os critrios explcitos a partir dos quais o texto
distingue diferentes categorias de signos (seguros ou provveis, unidos s coisas que
significam, ou separados delas, naturais ou de instituio), Marin conclui sua anlise
ressaltando os vnculos que, para os lgicos de Port-Royal, unem a teoria eucarstica da
enunciao e a teologia lingustica da Eucaristia: De tal modo, o corpo teolgico a funo
5
MARIN, Louis. La critique du discours. Etudes sur la Logique de Port-Royal et les Penses de Pascal. Paris,
Edition de Minuit, 1975.
6
MARIN, Louis. Des pouvoirs de limage. Editions du Seuil, Paris, 1993.
7
MARIN, Louis. Le Portrait du roi. ditions de Minuit, 1981.
8
MARIN, Louis. Opacit de la peinture. Essais sur la reprsentation au Quatrocento, Paris, Usher, 1989.
9
ARNAULD, Antoine; NICOLE, Pierre. La Logique ou LArt de Penser. Paris, Presses Universitaires de France,
1965.
6
semitica mesma e, para Port-Royal em 1683, h adequao perfeita entre o dogma catlico
da presena real e a teoria semitica da representao significante.
10
Ao juntar em sua prpria historicidade as duas dimenses da representao moderna,
transitiva e reflexiva, Marin deslocava a ateno para o estudo dos dispositivos e dos
mecanismos graas aos quais toda representao se apresenta como representando algo. Na
introduo de seu livro Opacit de la peinture
11
, ele relembra os efeitos heursticos do
deslocamento que o conduziu de uma semitica estrutural, fundada numa estrita anlise da
produo lingustica do sentido, insistncia sobre a explorao privilegiada dos modos e
modalidades, meios e procedimentos da apresentao da representao. Da vem a ateno
que devemos prestar a estes procedimentos que asseguram o funcionamento reflexivo da
representao: nos quadros, a moldura, o enfeite, a decorao; para os textos, o conjunto dos
dispositivos discursivos e materiais que constituem o aparato formal da enunciao. O
trabalho de Marin se cruzava assim com as perspectivas analticas que consideram os efeitos
de sentido das formas ou a relao da forma com a significao, segundo os termos de D.
F. Mckenzie.
2. Representaes e mundo social
Assim construdo, o conceito de representao foi e um precioso apoio para que se
pudessem assinalar e articular, sem dvida melhor do que nos permitia a noo de
mentalidade, as diversas relaes que os indivduos ou os grupos mantm com o mundo
social: em primeiro lugar, as operaes de classificao e hierarquizao que produzem as
configuraes mltiplas mediante as quais se percebe e representa a realidade; em seguida, as
prticas e os signos que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira
prpria de ser no mundo, a significar simbolicamente um status, uma categoria social, um
poder; por ltimo, as formas institucionalizadas pelas quais uns representantes (indivduos
singulares ou instncias coletivas) encarnam de maneira visvel, presentificam, a coerncia
de uma comunidade, a fora de uma identidade ou a permanncia de um poder. A noo de
representao, assim, modificou profundamente a compreenso do mundo social. Obrigou,
efetivamente, a repensar as relaes que mantm as modalidades da exibio do ser social ou
do poder poltico com as representaes mentais no sentido das representaes coletivas de
Mauss e Durkheim que do (ou negam) crena e crdito aos signos visveis que devem fazer
reconhecer como tal um poder ou uma identidade.
possvel, portanto, compreender de que maneira os enfrentamentos fundados na
violncia bruta, na fora pura, se transformam em lutas simblicas, ou seja, em lutas que tm
as representaes por armas e por apostas. A representao tem esse poder, porque, segundo
Marin, efetua a substituio da manifestao exterior em que uma fora s aparece para
aniquilar outra fora numa luta de morte, pelos signos da fora, ou melhor, sinais e indcios
que no necessitam ser vistos, comprovados, mostrados, logo contados e relatadas para que a
fora dos efeitos que seja acreditada.
Aqui, a referncia a Pascal est muito prxima. Quando desvela o mecanismo da
exibio que se dirige imaginao e produz a crena, Pascal ope a quem necessita de um
dispositivo tal, e aqueles para quem ele completamente desnecessrio. Entre os primeiros,
os juzes e os mdicos: Os nossos magistrados conheceram bem esse mistrio. As suas togas
vermelhas, os arminhos com que se enfaixam como gatos peludos, os palcios em que julgam,
10
MARIN, Louis. La Parole mange et autres essais thologico-politiques. Paris, Mridiens Klincksieck, 1986.
11
MARIN, Louis. Opacit de la peinture. Essais sur la Reprsentation au Quattrocento. Editions de l'EHESS,
2006.
7
as flores-de-lis, todo esse aparato augusto era muito necessrio; e, se os mdicos no tivessem
sotainas e galochas, e os doutores no usassem borla e capelo e tnicas muito amplas de
quatro partes, nunca teriam enganado o mundo, que no pode resistir a essa vitrina to
autntica. Se possussem a verdadeira justia e se os mdicos fossem senhores da verdadeira
arte de curar, no teriam o que fazer da borla e do capelo; a majestade destas cincias seria
venervel por si prpria. Como, porm, possuem apenas cincias imaginrias, precisam tomar
esses instrumentos vos que impressionam as imaginaes com que lidam; e destarte, com
efeito, atraem o respeito. Enquanto que os soldados, no necessitam dessa manipulao dos
signos e dessas mquinas de produzir respeito: S os homens de guerra no esto disfarados
assim, porque na realidade a sua parte mais essencial: estabelecem-se pela fora, ao passo
que os outros pela careta, la grimage.
12
O contraste indicado por Pascal tem uma relevncia particular para a histria das
sociedades do Antigo Regime. Em primeiro lugar, permite situar as formas da dominao
simblica, pela imagem, pela exibio, ou pelo attirail
13
(a palavra figura em La Bruyre),
como o corolrio do monoplio sobre o uso legtimo da fora que pretende reservar-se o
monarca absoluto. A fora no desaparece com a operao que a transforma em poderio, mas
esta fora, que sempre est disposio do soberano, parece posta em reserva pela
multiplicao dos dispositivos (retratos, medalhes, louvores, relatos, etc.) que representam a
potncia do rei e devem suscitar, sem recurso a nenhum tipo de violncia fsica, a obedincia
e a submisso. Em consequncia, os instrumentos da dominao simblica asseguram ao
mesmo tempo a negao e a conservao do absoluto da fora: negao porque a fora no
se exerce nem se manifesta, porque est em harmonia com os signos que a significam e a
designam; conservao porque a fora pela e na representao se d como justia, isto ,
como lei que obriga iniludivelmente, sob pena de morte.
14
O exerccio da dominao poltica
se respaldou assim na ostentao das formas simblicas, na representao do poder
monrquico, dada a ver e a crer inclusive na ausncia do rei graas aos signos que indicam
sua soberania. Se estendssemos esta coincidncia entre Marin e Elias, poderamos
acrescentar que essa pacificao (ao menos relativa) do espao social que, entre a Idade
Mdia e o sculo XVII, transformou os enfrentamentos sociais abertos e brutais em lutas de
representaes cujo objetivo o ordenamento do mundo social, e, portanto o nvel
reconhecido a cada estamento, cada corpo, cada indivduo.
Alm desse uso historicamente situado, a noo de representao transformou a
definio dos grupos sociais. Como ressalta Pierre Bourdieu, a representao que os
indivduos e os grupos exibem inevitavelmente por meio de suas prticas e propriedades faz
parte integrante de sua realidade social. Uma classe definida tanto por seu ser-percebido,
quanto por seu ser, por seu consumo que no necessita ser ostentador para ser simblico
quanto por sua posio nas relaes de produo (mesmo que seja verdade que esta posio
comanda aquele consumo).
15
As lutas de representaes so assim entendidas como uma
construo do mundo social por meio dos processos de adeso ou rechao que produzem.
Ligam-se estreitamente incorporao da estrutura social dentro dos indivduos em forma de
representaes mentais, e o exerccio da dominao, qualquer que seja, graas violncia
simblica.
12
Trad. em portugus: PASCAL. Pensamentos. Trad. de Srgio Milliet, So Paulo, Difuso Europia do Livro,
1957.
13
Em francs: aparato. N.T.
14
MARIN, Louis. Le Portrait du roi. ditions de Minuit, 1981.
15
Trad. em portugus: BOURDIEU, Pierre. A Distino: crtica social do julgamento. Porto Alegre: Editora
Zouk, 2007.
8
E a razo pela qual muitos trabalhos de histria cultural utilizaram durante os ltimos
anos, tanto o conceito de representao com o sem dito termo como a noo de dominao
ou violncia simblica que supe que quem a sofre contribui para sua eficcia segundo a
definio proposta por Bourdieu: A violncia simblica essa coero que se institui por
intermdio da adeso que o dominado no pode deixar de conceder ao dominante (portanto,
dominao), quando dispe apenas, para pens-lo e para pensar a si mesmo, ou melhor, para
pensar sua relao com ele, de instrumentos de conhecimento partilhados entre si e que fazem
surgir essa relao como natural, pelo fato de serem, na verdade, a forma incorporada da
estrutura da relao de dominao; ou ento, em outros termos, quando os esquemas por ele
empregados no intuito de se perceber e de se apreciar, ou para perceber e apreciar os
dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino, branco/negro, etc.), constituem o produto da
incorporao das classificaes assim naturalizadas.
16
Semelhante perspectiva transformou profundamente a compreenso de vrias
realidades essenciais, tais como o exerccio da autoridade, fundada na adeso aos signos, aos
ritos e s imagens que fazem que seja vista e obedecida; a construo das identidades sociais
ou religiosas, situada na tenso entre as representaes impostas pelos poderes ou pelas
ortodoxias e a conscincia de pertencimento de cada comunidade; ou bem, as relaes entre
os sexos, pensadas como a inculcao, pela repetio das representaes e as prticas, da
dominao masculina e tambm com a afirmao de uma identidade feminina prpria,
enunciada fora ou dentro do consentimento, pelo rechao ou a apropriao dos modelos
impostos. A reflexo sobre a definio das identidades sexuais, que Lynn Hunt designava em
1989 como uma das caractersticas originais da new cultural history constitui uma
ilustrao exemplar da exigncia que habita hoje em toda a prtica histrica: compreender, ao
mesmo tempo, como as representaes e os discursos constroem as relaes de dominao e
como estas relaes so elas mesmas dependentes dos recursos desiguais e dos interesses
contrrios que separam queles cujo poder legitimam daqueles ou daquelas cuja submisso
asseguram ou devem assegurar. Ento, tal como a entendo, a noo no est longe do real
nem do social. Ela ajuda aos historiadores a desfazer-se de sua muito pobre ideia do real,
como escreveu Foucault, colocando o centro na fora das representaes, sejam interiorizadas
ou objetivadas. Elas possuem uma energia prpria que convence o mundo, a sociedade que o
passado mesmo o que elas dizem que .
3. Representao e representabilidade
Nos ltimos anos a obra de Paul Ricoeur sem dvida alguma a que se dedicou com
mais ateno e perseverana aos diferentes modos de representao do passado: a fico
narrativa, o conhecimento histrico, as operaes da memria. Seu ltimo livro, A memria, a
histria, o esquecimento
17
, estabelece uma srie de distines essenciais entre estas duas
formas de presena do passado no presente que asseguram, por um lado, o trabalho da
anamnese, quando o indivduo descende para sua memria, como escreve Borges, e, por
outro, a operao historiogrfica. A primeira diferena a que distingue o testemunho do
documento. Se o primeiro inseparvel do depoimento e supe que sua palavra possa ser
recebida, o segundo nos permite o acesso a novos conhecimentos considerados como
histricos [que] nunca foram recordaes de ningum. estrutura fiduciria do testemunho
se ope a natureza indiciria do documento. A aceitao (ou o rechao) da credibilidade da
16
Trad. em portugus: BOURDIEU, Pierre. Violncia simblica e lutas polticas. In: ______. Meditaes
pascalianas. p. 199-251. Meditaes Pascalianas. Traduo Segio Miceli Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
2001.
17
Trad. em porgutus: RICOEUR, Paul. A Memria, a histria, o esquecimento. Campinas, Unicamp, 2007.
9
palavra que testemunha o fato substituda pela submisso ao regime do verdadeiro e do
falso, do refutvel e do verificvel, do vestgio arquivado.
Uma segunda distino diferencia a imediatez da reminiscncia e a construo da
explicao histrica, seja a explicao pelas regularidades e causalidades (desconhecidas
pelos atores), a explicao pelas razes (mobilizadas como estratgias explcitas) ou uma
regio mdia na qual se alternam e se combinam, s vezes de maneira aleatria, modos
heterclitos de explicao. Para testar as modalidades da compreenso histrica, Ricoeur
privilegiou a noo de representao, e o fez por duas razes. Por um lado, esta noo tem um
status ambguo na operao historiogrfica: designa uma classe particular de objetos ao
mesmo tempo em que define o prprio regime dos enunciados histricos. Da mesma forma
que Louis Marin, Ricoeur enfatiza assim as duas dimenses da representao: uma dimenso
transitiva (toda representao representa algo, ou seja, para a histria, os esquemas de
percepo e de apreciao que os atores histricos mobilizam para construir as identidades e
os vnculos sociais), e uma dimenso reflexiva (toda representao se d de tal maneira que
representa algo e, no caso do saber histrico, fazendo-o adequadamente).
Por outro lado, a importncia que outorga Ricoeur representao, como objeto e
como operao, lhe permite retomar a reflexo sobre as variaes da escala que caracterizou o
trabalho dos historiadores a partir das proposies da micro-histria. Para ele, o essencial no
se encontra tanto no privilgio dado a uma escala de anlise custa de outras, seno na
afirmao segundo a qual em cada escala se vm coisas que no podem ser vistas em outra
escala e cada viso tem sua legitimidade. Desse modo, totalmente impossvel totalizar
essas diferentes maneiras de dividir os objetos histricos, e, portanto, totalmente intil
querer buscar o lugar do colapso, desde onde poderiam considerar-se comensurveis.
Os jogos de escala que caracterizam a representao historiadora do passado levam
Ricoeur ao terceiro nvel da operao historiogrfica: o do relato. Tempo e narrativa
18
,
distingue muito cuidadosamente, a eleio dos modelos explicativos e a construo da
narrao. A precauo tende a evitar os mal-entendidos que, a partir da constatao segundo a
qual a histria, tal como a fico, mobiliza tropos retricos e formas narrativas, dissolveram a
capacidade de conhecimento do discurso histrico em sua simples narratividade. Da surge a
deciso, para assinalar bem a diferena que o separa da perspectiva de Hayden White, de
relacionar a narrao com o momento propriamente literrio da operao historiogrfica, o
que conserva a especificidade das operaes que fundamentam a inteno de verdade da
histria e suas estratgias explicativas.
Tambm da surge a possibilidade de assinalar com fora uma terceira diviso entre
memria e histria, entre o reconhecimento do passado e a representao do passado.
imediata (e suposta) fidelidade da memria se ope a inteno de verdade da histria, fundada
tanto na anlise dos documentos, que so vestgios do passado, como nos modelos de
inteligibilidade que constroem sua interpretao. Uma perspectiva tal no est muito distante
daquela de Michel de Certeau quando, ao fazer a reflexo sobre a escrita da histria,
enfatizava sua capacidade de produzir enunciados cientficos, se for entendido por esse
termo a possibilidade de estabelecer um conjunto de regras que permita controlar
operaes proporcionadas para a produo de objetos determinados.
19
Num tempo em que nossa relao com o passado est ameaada pela forte tentao
de histrias imaginadas e imaginrias, resulta essencial e urgente fazer uma reflexo sobre as
condies que permitam considerar um discurso histrico como uma representao e uma
18
Obra publicada em trs tomos, sendo o primeiro deles em 1993 e os outros dois no ano de 1995. RICOEUR,
Paul. Tempo e Narrativa. Campinas: Papirus.
19
Trad. em portugus : CERTEAU, Michel de. A escrita da histria. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1982.
10
explicao adequadas da realidade que aconteceu. Se aceitarmos, em princpio, a distncia
existente entre o saber crtico e o reconhecimento imediato, veremos que est reflexo
participa do longo processo de emancipao da histria em relao com a memria processo
que culmina quando a primeira submete a segunda aos procedimentos de conhecimento
prprios do discurso do saber.
A esta pretenso da histria, Ricoeur contrape os esforos da memria para tomar
posse da histria. Reconhece nelas diversas expresses: por exemplo, na tradio judaica, a
durvel resistncia da memria do grupo no tratamento historiogrfico do passado, ou, no
sculo XIX, na literatura, a rebelio da memria contra a empresa de neutralizao das
significaes vividas sob o olhar distante do historiador. O progresso da crtica documental e
a secularizao do conhecimento indireto do passado acabaram por produzir um mal-estar na
historiografia e a reivindicao da legitimidade de outra forma de compreenso, intuitiva,
imediata, comprometida do passado.
Alm das relaes de conflito, existem fortes dependncias que vinculam
necessariamente a histria e a memria. Faz-las aparecer a tarefa que Ricoeur se prope na
ltima etapa de sua reflexo, dedicada a definir uma hermenutica da condio histrica do
homem. Seu ponto de partida se encontra numa afirmao fundadora, que vincula a
experincia do tempo e o trabalho do conhecimento: Fazemos histria porque somos
histricos. Uma primeira dependncia da operao historiogrfica em relao memria,
tende, em consequncia, aporia comum com a que se enfrentam ambas: representar no
presente coisas do passado ou, dito de outra maneira, pensar a presena de uma coisa ausente
marcada com selo do anterior. Semelhante enigma, enunciado em seu princpio pelas
formulaes platnica e aristotlica, caracteriza, por sua vez, a fenomenologia da memria e a
epistemologia da histria, e assegura seu parentesco fundamental.
Mas ainda tem mais. A memria, de fato, deve considerar-se como matriz da
histria na medida em que continua sendo a guardi da problemtica da relao representativa
do presente com o passado. No se trata, aqui, de reivindicar a memria contra a histria
como fizeram alguns escritores do sculo XIX, seno de mostrar que o testemunho da
memria a nica garantia segura, a prova da existncia de um passado que foi e no mais.
O discurso histrico encontra a o atestado imediato e evidente da referencialidade de seu
objeto. A inteno de verdade da histria necessita dessa garantia dada pelo relatrio da
memria: a memria continua sendo a guardi da ltima dialtica constitutiva do passado, a
saber, a relao entre o no mais que assinala seu carter de terminado, abolido, superado, e
o foi que designa seu carter originrio e, neste sentido, indestrutvel. Assim vinculadas,
memria e histria continuam sendo, no entanto, incomensurveis. A epistemologia da
verdade que rege a operao historiogrfica e o regime da crena que governa a fidelidade da
memria so irredutveis. Cada um estabelece uma forma de presena do passado e o presente
produzidas por procedimentos e operaes que no podem ou devem confundir-se.
No entanto, sempre a iluso referencial ameaa a representao histrica do passado.
certo que, como nos mostra Roland Barthes, as modalidades de semelhante iluso no so
as mesmas no romance que, ao abandonar a esttica clssica da verossimilhana, multiplicou
as notas realistas destinadas a dar um peso de realidade na fico, e a histria para qual
lavoir-t des choses est un principe suffisant de la parole [o haver sido das coisas um
princpio suficiente do discurso]
20
. Mas, para exibir este princpio, o historiador deve
introduzir em sua narrao indcios ou provas deste haver sido que funciona como effets de
rel, [efeitos de realidade], encarregados de dar presena ao passado graas s citaes, s
fotos, aos documentos. Para Certeau, a construo desdobrada da histria se remete a tal
20
BARTHES, Roland. Leffet de rel. In: Le bruissement de la langue. Essais critiques IV. Paris, ditions du
Seuil, 1984.
11
presena: Se coloca como historiogrfico o discurso que compreende a seu outro a
crnica, o arquivo, o documento - , ou seja, o que se organiza como texto folheado no qual
uma metade, continua, se apoia sobre outra, disseminada, para poder dizer o que significa a
outra sem sab-lo. Por tais citaes, pelas notas e por todo o aparato de referncias
permanentes a uma primeira linguagem, o discurso se estabelece como saber de outro.
Porm, como indicam algumas fices, o uso de semelhante aparato nem sempre suficiente
para proteger contra a iluso referencial.
o que mostra um livro publicado no ano de 1958 na Cidade do Mxico. uma
biografia de um pintor catalo, Josep Torres Campalans, escrita por Max Aub, um
republicano e socialista espanhol que foi adido cultural em Paris, no ano de 1936, Comissrio
do Pavilho da Repblica, na Exposio Universal de 1937 e diretor com Malraux do filme
Serra de Teruel. Exilado na Frana depois da derrota da Repblica, perseguido e encarcerado
como comunista pelo Regime de Vichy, se refugiou no Mxico e conseguiu nacionalizar-se
mexicano em 1949. no Mxico que publicou o ciclo de seus romances dedicados Guerra
Civil e, no ano de 1958, a biografia de Josep Torres Campalans.
O livro mobiliza todas as tcnicas modernas de credenciamento do relato histrico:
as fotografias que tornam possvel ver os pais de Campalans, e a ele mesmo em companhia de
seu amigo Picasso, as declaraes feitas pelo pintor em dois jornais parisienses em 1912
(LIntransigeant), e em 1914 (o Figaro illustr), a edio de seu Caderno Verde no qual
anotou entre 1906 e 1914 observaes, aforismos e citaes, o catlogo de suas obras
estabelecida em 1942 por um jovem crtico irlands, Henry Richard Town, que preparava uma
exposio dos quadros de Campalans em Londres quando foi morto por um bombardeio
alemo, as conversas que Aub teve com o pintor quando o encontrou no ano de 1955 em San
Cristbal de las Casas, no estado de Chiapas, e finalmente as reprodues dos prprios
quadros que foram resgatados, segundo Aub, por um funcionrio franquista catalo,
residente em Londres [que] os adquiriu de maneira no muito transparente e que querendo
talvez fazer-se perdoar antigos agravos os fez chegar a Max Aub. Os quadros foram expostos
em Nova York, com um catlogo intitulado de Catalogue Josep Torres Campalans. The
First New York Exhibition. Bodley Gallery, 223 East Sixtieth Street, quando saiu em 1962 a
traduo para o ingls da biografia. O livro, ento, aproveita todas as tcnicas e instituies
modernas que, para Barthes, respondiam ao inesgotvel desejo de autenticar o real: as
fotografias (testemunho bruto do que existiu, do que foi, do que esteve ali), a reportagem, a
exposio.
No entanto, Josep Torres Campalans nunca existiu. Max Aub inventou este pintor,
supostamente nascido em Gerona em 1886 e que fugiu de Paris e deixou de pintar em 1914,
para se livrar das categorias manejadas pela crtica de arte: a explicao das obras pela
biografia do artista, o deciframento do sentido escondido das obras, as tcnicas de datao e
atribuio, o uso contraditrio das noes de precursor e de influncia. Capalans foi
submetido s influncias de Matisse, Picasso, Kandisky, Mondrian e, ao mesmo tempo, seus
quadros so os primeiros em cada novo estilo do sculo XX: o cubismo, a art ngre, o
expressionismo, a pintura abstrata. Tal como Don Quixote, a pardia divertida e sarcstica.
Hoje em dia possvel fazer uma leitura diferente. Aub mobilizou os dispositivos da
autentificao ao servio de uma iluso referencial particularmente poderosa e que enganou
muitos leitores. Mas, ao mesmo tempo multiplicou as advertncias irnicas que deviam
despertar a vigilncia. No por causalidade que a circunstncia que permite o encontro entre
Aub e Campalans, um colquio que celebra os trezentos e cinquenta anos da Primeira Parte
de Don Quixote, ou que o Prlogo indispensvel do livro se acaba como uma referncia ao
melhor de todos os prlogos: o de Don Quixote onde o amigo do autor, ou melhor, o
padastro do texto, zomba da erudio fictcia que credencia obra. Uma das epgrafes de Aub
tambm adverte o leitor. Aub atribui a um certo Santiago de Alvarado que em seu livro Nuevo
12
mundo caduco y alegras de la mocedad de los aos de 1781 hasta 1792 (uma obra ausente
do catlogo da Biblioteca Nacional de Madrid e que poderia figurar no Museo de El
Hacedor de Borges) havia escrito: Como pode haver verdade sem mentira?. No corao da
iluso lembrada assim a diferena que separa o conhecimento possvel do passado de sua
existncia fictcia nas fbulas literrias. Ao lado dos livros de Carlos Baroja e Anthony
Grafton dedicados s falsificaes histricas, o Campalans de Max Aub, paradoxalmente,
ironicamente, reafirma a capacidade de distinguir entre o encanto ou a magia da relao com
um passado imaginado e imaginrio e as operaes crticas prprias de um saber histrico
capaz de desmascarar as imposturas e estabelecer uma representao do passado situada na
ordem de um conhecimento universalmente aceitvel.
Mas, como demonstra Reinhart Koselleck, existem fortes dependncias entre a
experincia e o conhecimento, entre a percepo do tempo e as modalidades da escritura da
histria. s trs categorias da experincia que so a percepo do irrepetvel, a conscincia da
repetio e o saber das transformaes que escapam experincia imediata, correspondem
trs maneiras de escrever a histria: a histria que registra o acontecimento nico, a histria
que se desdobra em comparaes, analogias e paralelismos, e a histria entendida como uma
reescrita, ou seja, fundada sobre os mtodos e tcnicas que permitem um conhecimento crtico
que contribui a um progresso cognoscitivo acumulado.
21
Da, fao das concluses de Paul Ricoeur as minhas: uma vez submetidos a exame
os modos representativos que supostamente do forma literria intencionalidade histrica, a
nica maneira responsvel de fazer prevalecer a atestao sobre a suspeita de no-pertinncia
consiste em pr em seu lugar a fase escriturria s fases prvias da explicao compreensiva e
da prova documental. Dito de outra forma: somente juntas, escrita, explicao compreensiva e
prova documental, so capazes de credenciar pretenso de verdade do discurso histrico.
Somente o movimento de remisso da arte de escrever s tcnicas de investigao e aos
procedimentos crticos capaz de conduzir o protesto ao nvel de um atestado crtico.
22
O PASSADO NO PRESENTE. FICO, HISTRIA E MEMRIA.
Gostaria de dedicar esta reflexo s diversas formas de relao com o passado que o
tornam contemporneo do presente. Desejo abordar trs temas que permitem discutir diversas
propostas tericas e apresentar exemplos oriundos de minhas investigaes mais recentes.
Estes temas so em primeiro lugar a construo do passado pelas obras literrias,
principalmente teatrais; em seguida, a presena do passado da prpria literatura em cada
momento do presente da escrita literria e, finalmente, a concorrncia entre as representaes
do passado produzidas pela fico narrativa e a construo do saber histrico proposto pela
operao historiogrfica. Tal percurso possibilitar a discusso dos conceitos de energia
social, campo cultural e representao, da maneira como so elaborados por Stephen
Greenblatt, Pierre Bourdieu e Paul Ricur.
Para entender como algumas obras literrias configuram as representaes coletivas
do passado podemos fazer uso do conceito de energia social que desempenha um papel
essencial na perspectiva analtica do New Historicism. Em seu livro Shakespearean
Negotiations cujo subttulo The Circulation of Social Energy in Renaissance England
23
,
21
KOSELLECK, Reinhart. Estratos del tiempo. Estudios sobre la historia. Barcelona: Paids, 2003.
22
RICOEUR, Paul. A Memria, a histria, o esquecimento. Campinas, Unicamp, 2007.
23
Stephen Greenblatt, Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England,
Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1988.
13
Greenblatt define a noo de energia social como uma noo chave tanto para o processo da
criao esttica quanto para a capacidade das obras de transformar as percepes e as
experincias de seus leitores ou espectadores.
As representaes teatrales do passado. Shakespeare.
Por um lado, o que a escrita literria apreende a poderosa energia das linguagens,
ritos e prticas do mundo social. Mltiplas so as formas das negociaes que permitem tal
apreenso esttica do mundo social: a apropriao das linguagens; o uso metafrico ou
material, no caso do teatro, dos objetos do cotidiano; a simulao das cerimnias e discursos
pblicos. Por outro lado, a energia transferida para a obra literria o que Greenblatt designa
como the social energy intially encoded in the literary works [a energia social codificada
nas obras literrias], ou em outra frmula como the aesthetic forms of social energy [as
formas estticas da energia social] retorna ao mundo social atravs de suas apropriaes
por parte de seus leitores e espectadores. Para Greenblatt, o que define a fora esttica das
obras, ou de certas obras the capacity of certain verbal, aural, and visual traces to
produce, shape, and organize collective physical and mental experiences [A capacidade de
alguns traos verbais, orais e visuais de produzir, configurar e organizar experincias tanto
fsicas quanto mentais]. A circulao entre o mundo social e as obras estticas pode
apoderar-se de qualquer realidade, tanto dos desejos, das ansiedades ou dos sonhos quanto do
poder, do carisma ou do sagrado: everything produced by the society can circulate unless it
is deliberately excluded from circulation[qualquer coisa produzida pela sociedade pode
circular salvo se est excluda da circulao] por exemplo, pela censura monrquica ou
eclesistica
24
.
Dentre as realidades que circulam desse modo figuram as representaes do passado.
Quando publicaram em 1623 o in-flio que pela primeira vez reunia as obras teatrais de
Shakespeare, os dois editores, John Heminge e Henry Condell (que haviam sido, como o
prprio autor, atores e proprietrios na companhia do Rei, os Kings Men), decidiram repartir
as trinta e seis obras impressas em livro em trs categorias: comdias, histrias,
tragdias
25
. Se a primeira e a terceira retomam a diviso clssica entre os dois gneros da
potica teatral aristotlica, a segunda (histrias) introduz uma nova categoria que no in-flio
compreendia dez obras. A deciso tomada por Heminge e Condell pressupunha duas
operaes. Em primeiro lugar, a designao de uma nova identidade genrica a obras que
anteriormente haviam sido publicadas como histrias, mas que deixam de s-lo no in-flio
onde aparecem como tragdias. o caso, por exemplo, da Tragicall History of Hamlet ou
da True Chronicle History of the Life and Death of King Lear. Inversamente, foram
designadas como histrias obras teatrais que eram anteriormente tragdias em suas
edies in-quarto: por exemplo The True Tragedy of Richard of York, que a terceira parte de
Henry the Sixth, The Tragedy of King Richard the Third, ou The Tragedy of King Richard the
Second. Tambm foram excludas das histrias as tragdias romanas, apesar de serem
totalmente histricas: Coriolanus, Julius Ceasar e Anthony and Cleopatra. Por deciso dos
editores de 1623, se no for pela prpria vontade de Shakespeare, identificou-se assim a
histria representada no teatro com uma nica histria: a histria dos reis da Inglaterra
desde King John at Henry the Eigth o que exclua outros soberanos britnicos como
King Lear ou Macbeth.
24
Ibid., pp. 6-7 e p. 19.
25
The First Folio of Shakespeare, 1623, Prepared and Introduced by Doug Moston, New York e London, 1994.
Cf. Peter Blayney, The First Folio of Shakespeare, Washington, The Folger Shakespeare Library, 1991.
14
Esta primeira deciso implicava uma segunda quanto ordem de apresentao das
obras no in-flio. A cronologia dos reinados tinha que substituir a cronologia das obras; os
reis deviam prevalecer sobre o poeta. Embora a ordem de composio no seja muito clara, as
dez histrias organizam-se em dois ciclos ou tetralogias: entre 1591-93 Shakespeare
comps as trs partes de Henry the Sixth e Richard the Third cujos reinados correspondem ao
perodo entre 1422 e 1485, e entre 1595 e 1599 escreveu Richard the Second, as duas partes
de Henry the Fourth e Henry the Fifth, ou seja, a histria dos reis que reinaram entre 1377 e
1422. A composio de King John intercalou-se dentro da segunda tetralogia e Henry the
Eigth foi umas das ltimas obras escritas por Shakespeare, indubitavelmente em 1613, nos
anos de sua colaborao com Fletcher que produziu tambm The Two Noble Kinsmen e o
desaparecido Cardenio. Ao publicar as dez obras segundo a cronologia dos reinados e ao
denominar seis delas como the life and/or the death de um rei, Heminge e Condell as
transformaram em uma narrativa dramtica construda segundo uma concepo linear do
tempo que era a que fundamentava tambm a escrita das crnicas empregadas por
Shakespeare na composio de seus prprios textos: tais como as Chronicles of England de
Edward Hall, John Stow, Richard Grafton ou Raphael Holinshed.
Antes da publicao em formato in-flio, as histrias (ou pelo menos algumas
delas) foram as obras de Shakespeare de maior sucesso. Elas configuraram as experincias
coletivas fsicas e mentais (como escreve Greenblatt) de seus espectadores e leitores graas a
suas numerosas edies in-quarto e a suas encenaes teatrais. Num tempo em que talvez s
um tero das obras teatrais era impresso, algumas das histrias tiveram um xito editorial
incomum; antes de 1623 a primeira parte de Henry the Fourth foi reeditada sete vezes,
Richard the Third seis vezes e Richard the Second cinco vezes. Somente trs obras histricas
no foram publicadas antes do in-flio (a primeira parte de Henry the Sixth, King John e
Henry the Eight), enquanto que o caso com metade das trinta e seis obras reunidas por
Heminge e Condell. mais difcil seguir as funes das histrias no teatro, mas as ltimas
linhas de Henry the Fifth que fecha a segunda tetralogia em 1599 relembram a freqncia com
que foram representados anteriormente os episdios dos reinados seguintes, os de Henry the
Sixth cujos conselheiros lost France and made his England bleed / Which oft our stage hath
shown- o que foi mostrado com freqncia neste palco, e de Richard the Third. claro
ento que, como afirmava Thomas Heywood em sua Apologie for Actors em 1612
26
, as
histrias ensinaram a histria, sua histria, para todos aqueles que no liam as crnicas.
Segundo Greenblatt, o que circula nas histories a theatrical acquisition of
charisma through the subvertion of charisma [uma aquisio teatral do carisma atravs da
subverso deste carisma]
27
. A abdicao de Richard the Second em benefcio do usurpador
Bolingbroke (uma cena que no aparece nas trs primeiras edies in-quarto, mas sim, na
quarta edio em 1608 que indica em sua pgina de ttulo With new additions of the
Parliament Sceane, and the deposing of King Richard), suficiente para comprovar tal
diagnstico. Entretanto acredito que no se pode reduzir a complexidade da representao do
passado tal como se apresenta nas histrias a esta nica dimenso, mesmo que seja a mais
fundamental.
Jack Cade no cenrio
Um exemplo especfico ilustrativo a este respeito: a rebelio de Jack Cade tal como
est representada na segunda parte de Henry the Sixth encenada em 1591 e publicada em
26
Thomas Heywood, An Apology for Actors (1612), Richard H. Perkinson (ed.), New York, Scholars
Facsimiles & Reprints, 1941.
27
Stephen Greenblatt, Shakespearean Negotiations, op. cit., p. 20.
15
1595
28
. O texto relata um evento histrico narrado pelos cronistas Hall e Holinshed. Em 1450,
os artesos do Kent entraram em Londres para forar as autoridades a renunciar a qualquer
novo imposto e condenar os abusos dos oficiais locais
29
. Para construir a encenao da
rebelio de Cade, Shakespeare se apodera dos relatos que se fundamentavam nas peties
entregues pelos rebeldes ao rei
30
. Mas reinterpreta o evento de 1450 a partir das narraes de
uma rebelio anterior, a dos camponeses de 1381 comandados por Wat Tyler e Jack Straw
que haviam destrudo todos os arquivos senhoriais ou judiciais que justificavam sua
dependncia. Ao chegar em Londres, queimaram as Inns of Court, ou seja, os
estabelecimentos onde se ensinava direito. Frequentemente em sua histria Shakespeare
atribui a Cade e a seus seguidores uma linguagem milenarista e igualitria que caracterizou os
rebeldes de 1381 e no os de 1450. O exemplo mostra como a histria no teatro distorce as
crnicas e transfigura os acontecimentos para propor imaginao dos espectadores
arqutipos mais que circunstncias, neste caso o arqutipo de uma rebelio popular que
recapitula queixas, frmulas e gestos que pertenciam a momentos histricos muito diferentes.
Mas isso no tudo. O Cade de Shakespeare afirma um dio radical e absoluto
cultura escrita que os rebeldes de 1381, cujas destruies de documentos eram bem
peculiares
31
, no compartilham de forma alguma. Cade rechaa ao mesmo tempo o
conhecimento intil da escrita, as escolas e a impresso (ainda que no houvesse todavia
nenhuma prensa de impresso na Inglaterra de 1450), os escritores e os mestres. Emmanuel,
que sabe escrever e, pior ainda, conhece a court hand, a letra processual dos documentos
legais, e Lord Saye, que supostamente introduziu no reino uma grammar school, um
moinho de papel e uma imprensa, so executados para expiar seu conhecimento da palavra
escrita. O mundo anunciado por Cade no conhece a escrita, somente a palavra viva que
suficiente para proclamar a lei e atestar a verdade.
Da apreende-se a inquietante ambivalncia de tal representao
32
. Por um lado,
Shakespeare a constri retomando os tropos clssicos da desconfiana face ao valor de
verdade do documento escrito. Cade fala como os juristas medievais quando declara: Is not a
lamentable thing that of the skin of an innocent lamb should be made parchment? That
parchment being scribbled oer, should undo a man? [No uma coisa lamentvel que a
pele de um cordeiro inocente sirva para fazer pergaminho? E que este pergaminho uma vez
rabiscado possa arruinar um homem?]. A frmula no nada mais que uma variante da
famosa mxima jurdica: contra jus gentium fuit inventum a jure civilis, ut credatur pelli
animalis mortui [contra o direito das gentes o direito civil estabeleceu que se deve criar
sobre a pele de um animal morto]
33
. Na retrica milenarista de Cade, o animal morto
recupera sua identidade de cordeiro, simbolizando Cristo, e sua inocncia a dos inocentes
28
William Shakespeare, The First Part of the Contezntion of the Famous Houses of York and Lancaster (The
Second Part of Henry VI), in The Norton Shakespeare Based on the Oxford Edition, Stephen Greenblatt, General
Editor, New York e London, W. W. Norton & Company, 1997, pp. 203-290.
29
I. M. W. Harvey, Jack Cades Rebellion of 1450, Oxford, Clarendon Press, 1991.
30
Geoffrey Bullough, Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, London, Routledge and Kagan, and New
York, Columbia University Press, 1960, Volume III.
31
Steven Justice, Writing and Rebellion. England in 1381, Berkeley, Los Angeles and London, Unversity of
California Press, 1999, pp. 13-60.
32
Cf. as interpretaes do Cade de Shakespeare propostas por Stephen Greenblatt, Murdering Peasants: Status,
Genre, and The Representation of Rebellion, Representations, 1, February 1983, pp. 1-29; Annabel Patterson,
Shakespeare and the Popular Voice, Oxford, Basil Blackwell, 1989, e Phyllis Rackin, Stages of History.
Shakespeares English Chronicles, Ithaca and London, Cornell University Press, 1990.
33
Marta Madero, Las Verdades de los hechos. Proceso, juez y testimonio en la Castilla del siglo XIII,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, pp. 52-57.
16
injustamente condenados pelos malefcios da escrita. Encarna assim a resistncia persistente
oposta ao poder de e ao poder sobre a escrita exercido pelos dominadores e as autoridades
34
.
Por outro lado, Cade um personagem grotesco, ridculo, manipulado. o chefe de
uma rebelio carnavalesca que confere uma forma teatral s figuras do mundo ao avesso tal
como difundiam as estampas populares. O mundo sem dinheiro, sem propriedade, sem livros
nem escrita prometido por Cade um mundo absurdo, cruel e enganoso. ele o profeta de um
futuro aterrorizante, desmentido pelos esforos de todos os humildes (e dentre os quais os
espectadores do Globe) que queriam se apropriar da escrita para resistir autoridade escritural
dos poderosos. A dinmica dos intercmbios descrita por Greenblatt no exclui as
ambigidades nem a possibilidade de vrias interpretaes. Esta primeira figura da presena
do passado dentro do presente estabelece assim uma contemporaneidade entre as ansiedades,
as incertezas e as expectativas do pblico e a instabilidade do sentido da histria tal como a
obra esttica a presentifica.
As pardias dos gneros literarios. Cervantes
Entre os elementos que para Pierre Bourdieu definem a especificidade do campo
literrio e, de uma maneira global, dos campos culturais, um dos mais importantes a
presena em cada momento da histria do campo de seu prprio passado e de seu prprio
desenvolvimento. Tal presena adquire diversas formas nas obras novas: a imitao
acadmica, a restaurao kitsch, o retorno aos antigos, a pardia satrica, a recusa
revolucionria, etc. Mas sempre constitui um critrio fundamental tanto para a diferenciao
estilstica das obras quanto para a imposio da distino cultural e social: Dans le champ
artistique parvenu un stade avanc de son histoire, il ny a pas de place pour ceux qui
ignorent lhistoire du champ et de tout ce quelle a engendr, commencer par un certain
rapport, tout fait paradoxal, au legs de lhistoire[num campo artstico que atingiu um
estgio avanado de sua histria, no h espao para os que ignoram a histria do campo e de
tudo o que foi por ela produzido, comeando por uma certa relao, completamente
paradoxal, com o legado da histria]
35
.
O domnio prtico ou terico da histria do campo uma necessidade tanto para os
produtores como para os consumidores. Constitui um elemento decisivo nas lutas cujas
apostas so ao mesmo tempo a definio legtima do escritor ou do artista e o confisco do
direito de dizer quem o e quem no o . Nesse sentido o conhecimento do passado do campo
participa plenamente de seus princpios de polarizao e hierarquizao, que opem a lgica
esttica da arte pura, da art pour lart, que pressupe a autonomia da prtica esttica, e
portanto, a contemporaneidade de seus presentes sucessivos, lgica mercantil da littrature
industrielle, totalmente dominada pelas exigncias imediatas do mercado e as preferncias
de consumidores que no dominam a histria do campo. Persiste assim na estrutura de cada
campo cultural a diferena fundadora que constri o espao de produo e consumo dos bens
simblicos como um mundo econmico ao avesso, an economic world turned upside down,
onde o prazer desinteressado se ope ao lucro, o valor esttico rentabilidade financeira, a
autonomia de uma histria que est sempre presente e ativa distncia incomensurvel entre
34
Armando Petrucci, Pouvoir de lcriture, pouvoir sur lcriture dans la Renaissance italienne, Annales
E.S.C., 1988, pp. 823-847 e Armando Petrucci, Alfabetismo, escritura, oralidad, Barcelona, Gedisa, 1999. Cf.
tambm Anales de historia antigua, medieval y moderna, Volume 34, 2001, Poderes de la escritura, Escrituras
del poder, Roger Chartier e Marta Madero (eds.).
35
Pierre Bourdieu, Le champ littraire, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 89, setembro de 1991, pp.
4-46 (citao p. 26) [cf. em portugus: As regras da arte: genese e estrutura do campo literario, So Paulo,
Companhia das Letras, 1996].
17
o presente da atividade econmica e suas formas anteriores que perderam toda relevncia
36
.
Ainda quando a lgica econmica se insere no espao da produo esttica deve faz-lo
escondendo as formas mais grosseiras do mercantilismo e mobilizando os princpios da
legitimao cultural. Ao final, a littrature industrielle se apresenta como literatura...
O conhecimento da histria do campo distingue entre os sbios que a dominam e os
nafs ou os ingnuos que a ignoram. O exemplo que vou apresentar confirma a proposta
terica de Bourdieu e, talvez, a complete mostrando que justamente uma forma de distncia
ou ignorncia em relao ao saber dos doutos que possibilita a criao da literatura como
provocao(como escrevia Jauss
37
). Este exemplo o do leigo ingnuo: Miguel de
Cervantes.
Em um ensaio recente Georgina Dopico Black observa: Don Quijote inventa la
novela reciclando y reformulando casi todos los gneros discursivos que lo preceden[Dom
Quixote inventa o romance reciclando e reformulando quase todos os gneros discursivos que
o precedem]
38
. Para ela, a incorporao dentro da histria do fidalgo de quatro gneros
essenciais (os romances de cavalaria, o romance pastoral, a novela picaresca e a comdia
nova) permite a Cervantes afrontar quatro categorias profundamente em crise nos comeos do
sculo XVII: a imitao com os livros de cavalaria, o amor e o desejo com a literatura
pastoral, a lei e sua transgresso com o relato picaresco, a representao com o teatro. Creio
que possvel tambm considerar as apropriaes cervantinas desses quatro gneros como
diversas modalidades da presena do passado da literatura castelhana na escrita de Dom
Quixote. Uma imensa biblioteca cervantina dedicada a tal assunto e no cabe aqui abord-la.
Restrinjo-me a tratar do tema com reflexes ligadas a citaes precisas que podem ilustrar
como Cervantes se apodera do mundo textual herdado por seu tempo e, segundo Francisco
Rico, revoluciona la ficcon concibindola no en el estilo artificial de la literatura, sino en la
prosa domstica de la vida [revoluciona a fico concebendo-a no no estilo artificial da
literatura, mas na prosa domstica da vida ]
39
.
O primeiro corpus escrito no estilo artificial o dos livros de cavalaria. Enquanto
que a histria vai parodiar os recursos tpicos dos romances de cavalaria, tal como o
desdobramento autoral e o tema do manuscrito falado por casualidade, no segundo captulo,
imediatamente depois de sua primeira partida, o prprio Dom Quixote se torna autor do relato
de suas faanhas; Quin duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la
verdadera historia de mis famosos hechos, que el sbio que los escribiere no ponga, cuando
llegue a contar esta mi primera salida tan de maana, desta manera?: Apenas haba el
rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus
hermosos cabellos, y apenas los pequeos y pintados pajarillos con sus harpadas lenguas
haban saludado con dulce y meliflua armona la venida de la rosada aurora [...] cuando el
famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subi sobre su
famoso caballo Rocinante y comenz a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel
36
Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production or the Economic World Reversed, Poetics, Vol. 12, 4-5,
1983, pp. 311-356 e em Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature,
Cambridge, Polity Press, 1993, pp. 29-73.
37
Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt-am-Main, Suhrkamp Verlag, 1974 [tr.
port.: A histria da literatura como provocao teoria literria, So Paulo, Atica, 1994].
38
Georgina Dopico Black, Espaa abierta: Cervantes y el Quijote, in Espaa en tiempos del Quijote, Antonio
Feros e Juan Gelabert (dirs.), Madrid, Taurus, 2004, pp. 345-388.
39
Francisco Rico, Prlogo, in Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Nova edio
anotada aos cuidados de Silvia Iriso e Gonzalo Pontn, Barcelona, Galxia Gutenberg / Crculo de Lectores,
1998, p. 22.
18
(Primeira Parte, captulo II)
40
. A fico da histria ditada ao sbio ou mago que deve
record-la estabelece desde os prprios comeos do texto o jogo temporal que fundamenta
todo o Dom Quixote. O estilo dos livros de cavalaria no ridculo em si mesmo, uma vez
que, como disse uma vez Bourdieu, um livro muda pelo fato de que no muda quando o
mundo muda
41
.
Contrariamente tese que afirmava que o gnero cavalheiresco desapareceu no final
dos anos 1560, so numerosos os estudos recentes que mostram sua vitalidade prolongada at
a primeira metade do sculo XVII. Entre 1590 e 1605, os livros de cavalaria so numerosos
nas bibliotecas ( e no somente na estante do fidalgo de la Mancha) e nas remessas de livros
para a Amrica
42
, enquanto que, no contexto das reformas militares de Felipe II, multiplicam-
se as edies impressas em vrias formas e as cpias manuscritas que alimentam o que Pedro
Ctedra chama de caballera de papel
43
. Neste sentido, a pardia cervantina no debocha de
um morto, mas faz troa do disfarce entre o estilo artificial das fices cavalheirescas, este
estilo que emprega Dom Quixote como primeiro autor do livro de suas famosas proezas, e a
prosa domstica da vida que pode, tambm, tornar-se uma escrita das fbulas.
Outro gnero incorporado a Dom Quixote tambm um gnero em voga: a novela
picaresca. Tal como Dom Quixote, autor de seu prprio relato cavalheiresco, Gins de
Pasamonte, o galeote solto com seus companheiros de cadeia pelo cavaleiro andante no
captulo XXII, o autor do livro de sua vida que intitulou A vida de Gins de Pasamonte
44
. A
troa do gnero picaresco compreende vrios temas: a contradio inerente forma
autobiogrfica (Y est acabado? pergunt don Quijote. Cmo puede estar respondi l
, si an no est acabada mi vida?), a tenso entre o autor suposto, que um homem maduro, e
o heri, apresentado como um jovem pcaro (Gins me llamo, y no Ginesillo diz o galeote,
aludindo talvez ao Lazarillo de Tormes em que o hri nunca se chama assim, a no ser
no ttulo
45
), ou a busca do proveito contando verdades tan lindas y tan donosas que no
pueden haber mentiras que se le igualen [verdades to lindas e to graciosas que no pode
haver mentiras que se igualem a elas].
O xito da novela picaresca, tanto na Espanha quanto na Amrica, introduz em Dom
Quixote a relao entre escrita e dinheiro. Ao comissrio que diz a Dom Quixote a respeito de
40
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edicin del Instituto Cervantes, Dirigida por Francisco Rico,
Barcelona, Instituto Cervantes / Crtica, 1998, p. 46-47. cf. Edward C. Riley, La rara invencin, Estudios sobre
Cervantes y su posteridad literaria, Barcelona, Crtica, 2001, pp. 131-151.
Texto em portugus: Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, Trad. Viscondes de Castilho e Azevedo,
So Paulo, Abril Cultural, 1978, pp. 32-33: Quem duvida de que l para o futuro, quando sair luz a verdadeira
histria dos meus famosos feitos, o sbio que os escrever h de pr, quando chegar narrao desta minha
primeira aventura to de madrugada, as seguintes frases: Apenas tinha o rubicundo Apolo estendido pela face da
ampla e espaosa terra as doiradas melanias dos seus famosos cabelos, e apenas os pequenos e pintados
passarinhos, com suas farpadas lnguas, tinham saudado, com doce e melflua harmonia, a vinda da rosada
Aurora [...] quando o famoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, deixando as ociosas penas, se montou no seu
famoso cavalo Rocinante e comeou a caminhar pelo antigo e conhecido campo de Montiel
41
La lecture: une pratique culturelle. Dbat avec Pierre Bourdieu, in Pratiques de la lecture, sous la direction
de Roger Chartier, Paris, Editions Payot et Rivages, 1993, pp. 267-294 [tr. port.: A leitura: uma prtica cultural.
Debate entre Pierre Bourdieu e Roger Chartier, in Prticas da leitura, Sob a direo de Roger Chartier, So
Paulo, Estao Liberdade, 1995, pp. 230-253, citao p. 250].
42
Carlos Alberto Gnzalez Snchez, Los Mundos del libro. Mdios de difusin de la cultura occidental en las
Indias de los siglos XVI y XVII, Sevilha, Deputacin de Sevilla e Universidad de Sevilla, 1999, pp. 105-106, e
Pedro J. Rueda Ramrez, Negocio e intercambio cultural. El comercio de libros con Amrica en la carrera de las
Indias (siglo XVII), Sevilha, Deputacin de Sevilla Universidad de Sevilla e C.S.I.C., 2005, pp. 232-236.
43
Pedro Ctedra, De la caballera real de Alonso Quijano al sueo de la caballera de Don Quijote, Boletn de
la Real Academia Espaola, Tomo LXXV, Cadernos CCXCI-CCXCII, 2005, pp. 157-200.
44
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, op. cit., pp. 241-243. Cf. Edward Riley, La rara invencin,
op. cit., pp. 51-71.
45
Francisco Rico, Problemas del Lazarillo, Madrid, Ctedra, 1988, pp. 113-151.
19
Gins: l mesmo ha escrito su historia, que no hay ms que desear, y deja empeado el libro
en la crcel en docientos reales
46
, Gins redargi: Y le pienso quitar, si quedara en
docientos ducados(I, XXII)
47
. O dilogo trata assim de um tema que atravessa toda a histria
quixotesca e que encontra eco na polarizao dos campos literrios entre desinteresse esttico
e proveito econmico, ou seja, a oposio entre escrever para adquirir fama e escrever para
ganhar dinheiro. esta mesma tenso a que aparece na conversa entre Dom Quixote e o
tradutor que encontra na oficina de impresso de Barcelona no captulo LXII da Segunda
Parte
48
.
Da Vida de Gins de Pasamonte no se conhece nada, a no ser o ttulo. O leitor
frustrado tem que esperar dez anos para saber mais, quando no captulo XXVII da Segunda
Parte, Cide Hamete narra a transformao de Gins de Pasamonte, o pcaro, em Mestre Pedro,
o titereiro: Este Gins, pues, temoroso de no ser hallado de la justicia, que le buscaba para
castigarle de sus infinitas bellaqueras y delitos, que fueron tantos y tales, que l mismo
compuso un gran volumen contndolos, determin pasar al reino de Aragn y cubrirse el ojo
izquierdo, acomodndose al oficio de titerero, que esto y el jugar de manos lo saba hacer por
estremo
49
.
Semelhante pardia frustrada tambm se aplica a um terceiro gnero apropriado por
Dom Quixote: o romance pastoral. Depois de sua derrota para o Cavaleiro da Lua Branca,
dom Quixote deve cumprir a promessa de retirar-se em seu lugar, de baixar as armas e de
abster-se de buscar novas aventuras pelo perodo de um ano. Suspensas as faanhas do
cavaleiro andante, esboa-se uma nova fantasia na qual os romances pastorais poderiam
substituir os livros de cavalaria. Inspirado nos aldees disfarados de pastores e pastoras,
encontrados no captulo LVIII da Segunda Parte, que decidiram formar uma nova e pastoril
Arcdia representando as clogas, una del famoso poeta Garcilaso, y otra del excelentsimo
Camoes en su misma lengua portuguesa
50
, Dom Quixote prope a Sancho no captulo
LXVII: si es que a ti te parece bien, querra, oh Sancho! que nos convirtisemos en pastores,
siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo comprar ovejas y todas las dems cosas
que al pastoral ejercicio son necesarios, y llamndome yo el pastor Quijtiz y t el pastor
Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aqu,
endechando all, bebiendo de los liquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios
arroyuelos o de los caudalosos ros
51
. Outra vez Dom Quixote se torna o primeiro autor do
relato de sua prpria histria, escrito em estilo pastoral neste caso.
46
Texto em portugus, op. cit. p. 124: a sua histria escreveu-a ele prprio; obra a que nada falta. O livro l
lhe ficou pela cadeia empenhado em duzentos reales.
47
Texto em portugus, op. cit. p. 124: Tenho toda a teno [...] de o desempenhar, por duzentos ducados que
fosse.
48
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, op. cit., pp. 1142-1146. Sobre a visita de Dom Quixote
imprensa, cf. Roger Chartier, Inscrire et effacer. Culture crite et littrature XIe-XVIIIe sicle, Paris, Gallimard /
Seuil, 2005, pp. 53--77 [tr. port.: Inscrever e apagar. Cultura escrita e literatura (sculos XI-XVIIi), , So Paulo,
Editora Unesp, 2007, pp. 85-128].
49
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, op. cit., pp. 855-856. Texto em portugus, op. cit. p. 422:
Este Gins, pois, com medo de ser apanhado pela Justia, que o procurava para o castigar pelas suas infinitas
malfeitorias, velhacarias e delitos, que foram tantos e tais, que ele mesmo comps um grande volume em que os
narrava, resolveu passar para o reino de Arago, e tapar o olho esquerdo, empregando-se no ofcio de titereiro,
que em habilidades de mos ningum o excedia.
50
Ibid., p. 1101. Texto em portugus, op. cit. p. 543: uma do famoso poeta Garcilaso e outra do sublime
Cames, na sua prpria lngua portuguesa.
51
Ibid., pp. 1174-1175. Texto em portugus, op. cit. pp. 579-580: se isso te agrada, quereria eu, Sancho, que
nos convertssemos em pastores, pelo menos durante o tempo em que eu tiver de estar recolhido. Comprarei
algumas ovelhas e tudo o mais que necessrio para o exerccio pastoril; e, chamando-me eu o pastor Quixotiz,
e tu o pastor Pancino, andaremos por montes, selvas e prados, cantando ali, recitando endechas acol, bebendo
os lmpidos cristais, ou das fonts, ou dos regatos, ou dos rios caudalosos.
20
A pardia de Cervantes se apodera do xito das numerosas obras pastorais que
representavam a Arcdia fingida ou contrafeita e talvez de sua prpria Galatea, encontrada
pelo cura e o barbeiro no acervo da biblioteca de Dom Quixote. Nos ltimos captulos da
histria, todos os protagonistas (salvo a sobrinha e a ama) entram na nova loucura de Dom
Quixote e, tal como fez Dom Quixote no primeiro captulo da Primeira Parte, descrevem o
espao da fbula escolhendo os nomes que do uma nova identidade aos indivduos (Quixotiz,
Pancino, Carrasco, Curiambro para o cura) ou que do existncia a seres imaginrios por
exemplo s pastoras que cada um celebrar em seus versos pastorais ou corteses. Se a
inspirao faz falta, como disse Sanso Carrasco, darmosles los nombres de las estampadas
e impresas, de quien est lleno el mundo: Flidas, Amarilis, Dianas, Flridas, Galateas y
Belisardas
52
O romance pastoral virtual, que tinha podido constituir outra continuao da
histria com o ttulo de Terceira Parte do pastor enamorado Quixotiz no vir luz. O
desengano e a morte do fidalgo fazem com que a cloga acabe antes mesmo de comear,
causando a desesperana de Sancho que procura perpetuar a fbula. Disse ele a Dom Quixote:
Mire no sea perezoso, sino levntese desa cama, y vmonos al campo vestido de pastores,
como tenemos concertado
53
. Mas tal como a segunda parte da Galatea que nunca foi
publicada, nenhum Cide Hamete escreveu as aventuras do fidalgo quando passou a se chamar
Quixotiz.
As pardias do Quixote mostram como a escrita da contemporaneidade incide nas
obras que, em um dado momento, definem diferentes estticas ou diferentes tipos de autoria.
Os trs gneros narrativos apropriados pela histria (livros de cavalaria, romances pastorais,
vidas picarescas) tm temporalidades prprias. Mas em 1605 constituem na sincronia as
formas literrias dominantes contra as quais Cervantes inventa uma maneira radicalmente
nova de construir a fico. Isto ocorre porque o leigo ingnuo era um leitor atento que pde
incorporar na histria que imaginou os discursos literrios que a precedem e que, atravs deste
mesmo gesto, se tornam contemporneos. Bourdieu tem razo quando caracteriza a
especificidade dos campos culturais a partir da presena nunca apagada e sempre reativada de
seu passado. Entretanto, como indica Cervantes, isto sabem no somente os doutos, mas
tambm alguns ingnuos.
Memria e histria
Nos ltimos anos a obra de Paul Ricur sem dvida alguma a que se dedicou com
maior ateno e perseverana aos diferentes modos de representao do passado: a fico
narrativa, o conhecimento histrico, as operaes da memria. Seu ltimo livro, A memria, a
histria e o esquecimento, estabelece uma srie de distines essenciais entre estas duas
formas de presena do passado no presente que asseguram, por um lado, o trabalho da
anamnese, quando o indivduo descende a su memoria[desce sua memria] como
escreve Borges, e, por outro lado, a operao historiogrfica
54
. A primeira diferena a que
distingue o testemunho do documento. Se o primeiro inseparvel da testemunha e da
credibilidade outorgada a suas palavras, o segundo permite o acesso a conhecimentos que
foram recordaes de ningum. estrutura fiduciria do testemunho, que implica a confiana,
se ope a natureza indiciria do documento, submetido aos critrios objetivos da prova. Uma
segunda distino ope a imediao da memria e a construo explicativa da histria, seja
qual for a escala de anlise dos fenmenos histricos ou o modelo de inteligibilidade
52
Ibid., p. 1213. Texto em portugus, op. cit. p. 599: dar-lhe-emos os nomes das impressas, de que est cheio o
mundo: Flis, Amarlis, Dianas, Flridas, Galatias e Belisardas
53
Ibid., p. 1219. Texto em portugus, op. cit. p. 602: Olhe, no me seja Vossa Merc preguioso, levanta-se
dessa cama e vamos para o campo vestidos de pastores, como combinamos.
54
Paul Ricoeur, La memoire, lhistoire, loubli, Pars, ditions du Seuil, 2000 .
21
escolhido, sejam as explicaes que indagam as determinaes desconhecidas dos atores ou as
explicaes que privilegiam suas estratgias explcitas e conscientes. Depreende-se da uma
terceira diferena: entre o reconhecimento do passado possibilitado pela memria e sua
representao, ou representncia no sentido de ter o lugar de, assegurada pelo relato
histrico.
A distino analtica entre a escolha de modelos explicativos e a construo do relato
histrico permite ressaltar os parentescos narrativos ou retricos entre a fico e a histria (tal
como mostrava Tempo e narrativa
55
) sem correr o risco de dissolver a capacidade de
conhecimento da histria na narratividade que rege sua escrita. Insistindo nas operaes
especficas que fundamentam tanto a inteno de verdade quanto a prtica crtica da histria,
Ricur rechaa todas as perspectivas que consideram que o regime de verdade do romance e
o da histria so idnticos. Assim retoma a afirmao de Michel de Certeau a respeito da
capacidade da histria de produzir enunciados cientficos, se entende-se por isso la
possibilit dtablir un ensemble de rgles permettant de contrler des oprations
proportionnes la production dobjets dtermins [a possibilidade de estabelecer um
conjunto de regras que possibilitem controlar operaes voltadas para a produo de objetos
determinados]
56
. So estas operaes e regras que permitem assegurar a representao
histrica do passado e rejeitar a suspeita de relativismo ou ceticismo que nasce do uso das
formas literrias pela escrita historiogrfica: estruturas narrativas, tropos retricos, figuras
metafricas.
O documento contra o testemunho, a construo explicativa contra a reminiscncia
imediata, a representao do passado contra seu reconhecimento: cada fase da operao
historiogrfica se distingue assim claramente da atuao da memria. Mas a diferena no
exclui a competncia. Por um lado, a histria procurou recentemente submeter a memria ao
status de um objeto histrico cujos lugares de inscrio, formas de transmisso e usos
ideolgicos devem ser estudados
57
. Por outro lado, a memria pde aspirar a uma relao
mais verdadeira, mais autntica, com o passado que a histria. Foi o caso na tradio judaica
com a duradoura reserva ao tratamento historiogrfico do passado, como mostra Yosef
Yerushalmi
58
, ou foi o caso no sculo XIX, quando a memria ops um conhecimento vivo,
afetivo, existencial do passado a sua neutralizao distanciada e inerte por parte dos
historiadores.
Hoje em dia Ricur sugere que no se trata de reivindicar a memria contra a histria,
mas reconhecer suas diferenas fundamentais e, tambm, mostrar a relao que as une. Com
efeito, no testemunho da memria, na recordao da testemunha, que a histria encontra a
certeza na existncia de um passado que foi, que j no mais e que a operao
historiogrfica pretende representar adequadamente no presente. Como escreve Ricur, La
mmoire reste le gardien de lultime dialectique constitutive de la passit du pass, savoir
le rapport entre le ne plus qui en marque le caractre rvolu, aboli, dpass, et layant t
qui en dsigne le caractre originaire et en ce sens indestructible [A memria continua
sendo a guardi da ltima dialtica constitutiva do passeidade do passado, a saber, a relao
entre o no mais que assinala seu carter acabado, abolido, superado, e o tendo sido que
55
Paul Ricoeur, Temps et recit, t.1, Lintrigue et le recit historique; t.2, La configuration dans le recit et la
fiction; t.3, Le temps racont, Paris, ditions du Seuil, 1983-1985 [tr. port.: Tempo e narrativa, Campinas,
Papirus, 1994].
56
Michel de Certeau, Lcriture de lhistoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 64 [tr. port.: A escrita da histria, Rio
de Janeiro, Forense-Universitria, 2a ed., 2000].
57
Krzysztof Pomian, "De l'histoire, partie de la mmoire, objet d'histoire", in Krzysztof Pomian, Sur l'histoire,
Paris, Gallimard, 1999, pp. 263-342.
58
Yosef Yerushalmi, Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Washington, University of Washington Press,
1982 [tr. port.: Zakhor. Histria judaica e memoria judaica, Rio de Janeiro, Imago, 1992].
22
designa seu carter originrio e, neste sentido, indestrutvel]
59
. no entrecruzamento entre a
cientificidade da operao historiogrfica e a garantia ontolgica do testemunho que Ricur
fundamenta a recusa das posies cticas e relativistas e descarta a absoro ou dissoluo do
passado dentro do presente
60
.
A iluso referencial e o conhecimento histrico. Max Aub
No entanto, como sabia Cervantes para nosso prazer ou para o incmodo de seus
leitores, sempre a iluso referencial se coloca na relao com o passado, seja qual for seu
registro. certo que, como demonstra Roland Barthes, as modalidades de tal iluso no so
as mesmas no romance que, ao abandonar a esttica clssica da verossimilhana, multiplicou
as notas realistas destinadas a conferir fico um peso de realidade, e na histria para a qual
lavoir-t des choses est un principe suffisant de la parole [o ter-sido das coisas um
princpio suficiente do discurso]
61
. Mas, para exibir este princpio, o historiador deve
introduzir em sua narrao indcios ou provas deste ter-sido que funcionam como effets de
rel, efeitos de realidade, encarregados de dar presena ao passado graas s citaes, s
fotos, aos documentos. Para de Certeau, a construo desdobrada da histria remete a tal
presena: Se pose comme historiographique le discours qui comprend son autre la
chronique, larchive, le document-, cest--dire celui qui sorganise en texte feuillet dont une
moiti, continue, sappuie sur lautre, dissmine, et se donne ainsi le pouvoir de dire ce que
lautre signifie sans le savoir. Par les citations, par les rfrences, par les notes et par tout
lappareil de renvois permanents un langage premier, il stablit en savoir de lautre.
[Coloca-se como historiogrfico o discurso que compreende seu outro a crnica, o
arquivo, o documento , ou seja, o que se organiza como texto folheado no qual uma metade,
continua, se apia sobre outra, disseminada, para poder dizer o que significa a outra sem sab-
lo. Pelas citaes, pelas referncias, pelas notas e por todo o aparato de remisses
permanentes a uma primeira linguagem, o discurso se estabelece como saber do outro]
62
.
Entretanto, como indicam algumas fices, o uso de tal aparato nem sempre suficiente para
proteger contra a iluso referencial.
o que mostra um livro publicado em 1958 na Cidade do Mxico. uma biografia de
um pintor catalo, Jusep Torres Campalans, escrita por Max Aub, um republicano e socialista
espanhol que fui adido cultural em Paris em 1936, comissrio do Presidente da Repblica na
Exposio Universal de 1937 e diretor com Malraux do filme Sierra de Teruel. Exilado na
Frana desde a derrota da Repblica, perseguido e preso como comunista pelo Regime de
Vichy, refugiou-se no Mxico e adquiriu a nacionalidade mexicana em 1949. no Mxico
onde publicou o ciclo de seus romances dedicado Guerra Civil e, em 1958, a biografia de
Jusep Torres Campalans
63
.
O livro faz uso de todas as tcnicas modernas de persuaso do relato histrico: as
fotografias que mostram os pais de Campalans e o prprio em companhia de seu amigo
Picasso, as declaraes que o pintor fez em dois peridicos parisienses em 1912 (
LIntransigeant) e em 1914 (o Figaro illustr), a edio de seu Caderno Verde no qual
anotou entre 1906 e 1914 observaes, aforismos e citaes, o catlogo de suas obras
estabelecido em 1942 por um jovem crtico irlands, Henry Richard Town, que preparava
59
Paul Ricoeur, La memoire, lhistoire, loubli, op. cit., p. 648.
60
Franois Hartog, Rgimes dhistoricit. Prsentisme et exprience du temps, Paris, ditions du Seuil, 2003.
61
Roland Barthes, "L'effet de rel", en Communications, 1968, republicado em Le bruissement de la langue.
Essais critiques, IV, Paris, ditions du Seuil, 1984, pp. 153-174 [tr. port.: O rumor da lngua, Lisboa, Ed. 70,
1987].
62
Michel de Certeau, Lcriture de lhistoire, op. cit., p. 111.
63
Max Aub, Jusep Torres Campalans (1958), reeditado em Barcelona, Ediciones Destino, 1999.
23
uma exposio dos quadros de Campalans em Londres quando foi morto por um bombardeio
alemo, as conversas que Aub travou com o pintor quando o encontrou em 1955 em San
Cristbal de las Casas, no estado de Chiapas, e finalmente as reprodues dos quadros que
foram resgatados, segundo Aub, por um funcionrio franquista catalo, residente em Londres
[que] os adquiriu de maneira no muito clara e que querendo talvez se fazer perdoar por
antigos agravos os fez chegar a Max Aub. Os quadros foram expostos em Nova York, com
um catlogo intitulado Catalogue Jusep Torres Campalans. The First New York Exhibition.
Bodley Gallery, 223 East Sixtieth Street quando saiu em 1962 a traduo em ingls da
biografia. O livro, ento, aproveita todas as tcnicas e instituies modernas que, para
Barthes, respondiam ao inesgotvel desejo de autenticar o real: as fotografias (testemunha
bruta do que ocorreu ali) , a reportagem, a exposio.
E, no entanto, Jusep Torres Campalans nunca existiu
64
. Max Aub inventou este
pintor, supostamente nascido em Gerona em 1886 e que fugiu de Paris e deixou de pintar em
1914, para zombar das categorias empregadas pela crtica de arte: a explicao das obras pela
biografia do artista, o esclarecimento do sentido escondido das obras, as tcnicas de datao e
atribuio, o uso contraditrio das noes de precursor e de influncia. Campalans sofre
influncia de Matisse, Picasso, Kandinsky, Mondrian, e, ao mesmo tempo, seus quadros so
os primeiros em cada novo estilo do sculo XX: o cubismo, a art ngre, o expressionismo, a
pintura abstrata. Tal como as do Quixote, a pardia divertida e mordaz
65
.
Hoje em dia pode-se ler de maneira diferente. Mobiliza os dispositivos da
autenticao a servio de uma iluso referencial particularmente poderosa e que enganou
muitos leitores. Mas ao mesmo tempo multiplica as advertncias irnicas que devem despertar
a vigilncia. No por acaso que a circunstncia que permite o encontro entre Aub e
Campalans um colquio que celebra os trezentos e cinqenta anos da Primeira Parte de Dom
Quixote, nem que o Prlogo indispensvel do livro termina com uma referncia ao
melhor de todos os prlogos: o de Dom Quixote onde o amigo do autor, ou melhor, do
padrasto do texto, debocha de uma erudio fictcia que pretende certificar a autoridade da
obra. Uma das epgrafes de Aub tambm adverte o leitor. Aub a atribui a um certo Santiago
de Alvarado que em seu livro Nuevo mundo caduco y alegrias dela mocedad de los aos de
1781 hasta 1792 (uma obra ausente do catlogo da Biblioteca Nacional de Madrid e que
poderia figurar no Museu de El hacedor
66
) havia escrito: Como pode haver verdade sem
mentira?. No prprio seio da iluso se recorda assim a diferena que separa o possvel
conhecimento do passado de sua fictcia existncia nas fbulas literrias. Ao lado dos livros
de Carlo Baroja ou Anthony Grafton dedicados s falsificaes histricas
67
, o Campalans de
Max Aub, paradoxicalmente, ironicamente, reafirma a capacidade de distinguir entre o
encanto ou a magia da relao com um passado imaginado e imaginrio e as operaes
crticas prprias de um saber histrico capaz de desmascarar as imposturas e de estabelecer o
que Ricur chama de uma memria eqitativa eqitativa porque obriga as memrias
particulares a confrontarem-se com uma representao do passado situada na ordem de um
conhecimento universalmente aceitvel.
64
Ver tambm outra biografa imaginria de Max Aub, desta vez a de um escritor, Vida y obra de Luis lvarez
Petrea, (1934), reedio aumentada, Barcelona, Salvat Editores, 1971.
65
Cf. Dolores Fernndez Martnez, Jusep Torres Campalans. La obra, in Max Aub: Veinticinco aos despus,
Dirigido por Ignacio Soldevila Durante e Dolores Fernndez Martnez, Madrid, Editorial Complutense, 1999, pp.
111-158.
66
Jorge Luis Borges, El Hacedor, (1972), Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 117-127.
67
Anthony Grafton, Forgers and Critics. Creativity and Duplicity in Western Scholarship, Princeton, Princeton
University Press, 1990 [tr. port.: As orgens trgicas da erudio. Pequeno tratado sobre a nota de rodap,
Campinas, Papirus, 1998], e Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia (en relacin con la de
Espaa), Barcelona, Seix Barral, 1992.
24
Experincia do tempo e escrita da histria
Mas, como se sabe, se tal distino se acha teoricamente fundada, no pode e talvez no deva
desfazer os laos entre histria e memria. Por um lado, devemos pensar com Reinhart
Koselleck que existem fortes dependncias entre a experincia e o conhecimento, entre a
percepo do tempo e as modalidades da escrita da histria. s trs categorias da experincia
que so a percepo do irrepetvel, a conscincia da repetio e o saber das transformaes
que escapam experincia imediata, correspondem trs maneiras de escrever a histria: a
histria que registra o acontecimento nico, a histria que desenvolve comparaes, analogias
e paralelismos, e a histria entendida como reescrita, ou seja, como fundada nos mtodos e
tcnicas que permitem um conhecimento crtico que contribui para um progresso cognitivo
acumulado
68
.
Por outro lado, a histria no pode ignorar os esforos que procuraram ou procuram
fazer desaparecer, no s as vtimas, mas tambm a possibilidade de que suas existncias
sejam recordadas. Neste sentido, a histria nunca pode esquecer os direitos de uma memria
que uma insurreio contra a falsificao ou a negao do que foi. A histria deve reagir a
tal pedido e, com sua exigncia de verdade, apaziguar, tanto quanto possvel, as infinitas
feridas que deixou em nosso presente um passado muitas vezes injusto e cruel.
A NOVA HISTRIA CULTURAL EXISTE?
Roger Chartier
A categoria de new cultural history entrou no lxico corrente dos historiadores h
mais de uma dezena de anos quando Lynn Hunt publicou, com este ttulo, uma obra que reune
oito ensaios sobre diferentes modelos e exemplos desse novo modo de fazer histria (Hunt
ed., 1989). Na sua introduo, ela sublinha os trs traos essenciais que davam coerncia a
trabalhos cujos objectos (textos, imagens, rituais,etc.) eram muito diversificados.
Em primeiro lugar, centrando a sua ateno sobre as linguagens, as representaes e as
prticas, a new cultural history prope um modo indito de compreender as relaes entre
as formas simblicas e o mundo social. Uma abordagem clssica, ligada localizao
objectiva das divises e das diferenas sociais, ela ope a sua construo mvel, instvel,
conflitual, a partir das prticas sem discurso, das lutas de representao e dos efeitos
performativos dos discursos.
Em segundo lugar, a new cultural history encontra modelos de inteligibilidade em
vizinhos que at ento os historiadores tinham pouco frequentado : de um lado os
antroplogos, e do outro, os crticos literrios. s antigas alianas, estabelecidas entre a
histria e as disciplinas amigas ou rivais como eram a geografia, a psicologia ou a sociologia,
Assim sucederam-se novas proximidades que obrigam os historiadores a ler de maneira
menos directamente documental os textos ou as imagens e a compreender nos seus
significados simblicos os comportamentos individuais ou os ritos colectivos.
En terceiro lugar, esta histria, que se faz mais de estudos de casos do que de
teorizao geral, levou os historiadores a reflectir sobre as suas prprias prticas e, em
68
Reinhart Koselleck, Erfahrungswandel und Methodeweschel. Eine historische historischanthropologische
Skizze, in Historische Methode, C. Meier y J. Rsen (hrsg.) Mnchen, 1998, pp. 13-61 [tr. port.: Futuro
passado: contribuio semntica dos tempos histricos, Rio de Janeiro, Ed. PUC-Rio, Contraponto, 2006].
25
particular, sobre as escolhas conscientes ou as determinaes ignoradas que comandavam o
seu modo de construir as narrativas e as anlises histricas.
Estas so as trs caractersticas fundamentais que definiam, para Lynn Hunt, uma nova
prtica historiogrfica. Afirmava assim a convergncia entre pesquisas nascidas em contextos
sensivelmente diferentes: a saber, do lado americano, o uso, por vrios historiadores, de
conceitos e modelos baseados no trabalhos de antroplogos comoVictor Turner, Mary
Douglas, Clifford Geertz ou, do lado francs, as crticas dirigidas do interior da tradio dos
Annales, tanto s definies clssicas da noo de mentalidades quanto s certezas estatsticas
da "histria serial do terceiro nvel" - o da cultura. Seria necessrio acrescentar, ainda que
curiosamente a referncia esteja ausente no livro de Lynn Hunt, as propostas apresentadas na
mesma altura quanto aos efeitos cognitivos produzidos pela reduo da escala de observao,
tal como a preconizava e a praticava a "microstoria italiana. Ao designar sob uma mesma
noo abordagens com to variadas origens, o livro de Lynn Hunt dava visibilidade e unidade
ao conjunto de mudanas que at ento tinham passado desapercebidas - ou tinham sido mal
interpretadasdas. assim, cerca de uma dcada antes, que a categoria de new cultural
history no aparecia de forma alguma no balano historiogrfica proposto por Dominick
LaCapra e Steve Kaplan (LaCapra e Kaplan eds., 1982).
A nova histria cultural dos anos 80 era claramente definida em oposio a postulados
que at ento tinham governado a histria das mentalidades (Le Goff, 1974). Em primeiro
lugar, o objecto da histria das mentalidades o oposto do da histria intelectual clssica. s
ideias, que resultam da elaborao consciente de um esprito singular, ope-se a mentalidade,
sempre colectiva, que rege automaticamente o contedo impessoal dos pensamentos comuns.
Tendo por objecto o colectivo, o automtico, o repetitivo, a histria das mentalidades pode e
deve tornar-se serial e estatstica. Nisso, inscreve-se na herana da histria das economias, das
populaes e das sociedades que, no horizonte da grande crise dos anos trinta, e em seguida
sobre o do imediato ps-guerra, constituiu o domnio mais inovador da historiografia.
Quando, nos anos sessenta, a histria das mentalidades define um novo campo de estudos,
promissor e original, desenvolve-o com frequncia retomando os mtodos que asseguraram os
triunfos da histria econmica e social: ou seja, as tcnicas da estatstica regressiva e da
anlise matemtica de sries.
Duas consequncias decorrem do primado concedido s sries, e por conseguinte ao
estabelecimento e tratamento de dados homogneos, repetidos e comparveis, com intervalos
temporais regulares. A primeira o privilgio dado s fontes massivas, largamente
representativas e disponveis para um perodo longo: por exemplo, os inventrios pstumos,
os testamentos, os catlogos de bibliotecas, os arquivos judiciais, etc.. A segunda
consequncia consiste na tentativa de articular, de acordo com o modelo braudeliano das
diferentes temporalidades (longa durao, conjuntura, acontecimento), o tempo longo das
mentalidades que com frequncia resistem transformao, com o tempo curto dos
abandonos brutais ou de rpidas transferncias de crenas e de sensibilidade.
Uma terceira caracterstica da histria das mentalidades na sua idade de ouro procede
da forma ambgua de pensar a sua relao com a sociedade. A noo parece, efectivamente,
destinada a apagar diferenas a fim de encontrar categorias partilhadas por todos os membros
de uma mesma poca. Entre os praticantes da histria das mentalidades, Philippe Aris sem
dvida quem mais fortemente se ligou a uma tal identificao da noo com um sentimento
comum. O reconhecimento dos arqutipos de civilizao partilhados por uma sociedade
inteira no significa certamente a anulao de toda a diferena entre os grupos sociais ou entre
clrigos e laicos. Mas estas distncias form sempre pensadas no interior de um processo de
longa durao o qual produz representaes e comportamentos que so essencialmente
comuns. Postulando assim a unidade fundamental (pelo menos tendencialmente) do
inconsciente colectivo, Philippe Aris l os textos e as imagens, no como manifestaes de
26
singularidades individuais, mas para decifrar a expresso inconsciente de uma sensibilidade
colectiva ou para encontrar o fundo recorrente de representaes comuns que era espontneo e
universalmente partilhado (Aris, 1977).
Para outros historiadores das mentalidades, mais directamente inscritos na herana da
histria social, o essencial reside no n que liga as distncias entre as maneiras de pensar e de
sentir e as diferenas sociais. Uma tal perspectiva organiza a classificao dos factos de
mentalidade a partir das divises estabelecidas pela anlise social. Disto a sobreposio entre
as fronteiras sociais que separam grupos ou classes e as que diferenciam suas mentalidades
(Mandrou, 1961). Este primado do recorte social certamente o trao mais ntido da
dependncia da histria das mentalidades em relao histria social na tradio francesa.
Como explicar o sucesso, dentro e fora da Frana, tanto entre historiadores como entre
leitores, da histria das mentalidades, nos anos 60 e 70? Isto porque uma tal abordagem
permitia, na prpria diversidade, a criao de um novo equilbrio entre histria e cincias
sociais. Contestada na sua primazia intelectual e institucional pelo desenvolvimento da
psicologia, da sociologia e da antropologia, a histria enfrentou-as anexando as questes das
disciplinas que punham em causa a sua dominao. A ateno deslocou-se ento para objectos
(sistemas de crena, atitudes colectivas, formas rituais, etc.) que at ento pertenciam aos
campos vizinhos, mas que entravam plenamente numa histria das mentalidades colectivas.
Ao apropriar-se dos procedimentos e dos mtodos de anlise que eram os da histria
econmica e social, a histria das mentalidades (no seu sentido mais abrangente) pde ocupar
a dianteira da cena historiogrfica e responder com eficacia ao desafio lanado pelas cincias
sociais.
Contudo, no faltaram crticas contra os seus postulados e interesses. As primeiras
vieram da Itlia. Desde 1970, Franco Venturi denunciava o apagamento da fora criativa das
novas ideias em proveito de simples estruturas mentais sem dinamismo nem originalidade
(Venturi, 1970). Alguns anos mais tarde, Carlo Ginzburg ampliava a crtica (Ginzburg, 1976).
Ele recusavou a noo de mentalidade por trs razes: para comear, pela sua insistncia
exclusiva em elementos inertes, obscuros e inconscientes das vises do mundo, o que conduz
a diminuir a importncia das ideias racional e conscientemente enunciadas; em seguida,
porque pressupe indevidamente a partilha das mesmas categorias e representaes por todos
os grupos sociais; finalmente, pela sua aliana com os procedimentos quantitativos e seriais
que, em conjunto, reifica os contedos do pensamento, liga-se s formulaes mais repetitivas
e ignora as singularidades. Os historiadores eram assim convidados a privilegiar as
apropriaes individuais, mais do que as distribuies estatsticas, a compreender como um
indivduo ou uma comunidade interpretavam, em funo da sua prpria cultura, as ideias e as
crenas, os textos e os livros que circulavam em sua na sociedade..
Em 1990, Geoffrey Lloyd radicalizou ainda mais a acusao (Lloyd, 1990). A crtica
dirigia-se a dois postulados essenciais da histria das mentalidades: por um lado, o de atribuir
a uma sociedade inteira um conjunto estvel e homogneo de ideias e de crenas; por outro
lado, o de considerar que todos os pensamentos e todos os comportamentos de um indivduo
so governados por uma estrutura mental nica. As duas operaes so a prpria condio
para que uma mentalidade possa ser distinguida de uma outra e para que seja identificvel, em
cada indivduo, a utensilagem mental que partilha com os seus contemporneos. Uma tal
maneira de pensar suprime, nas recorrncias do colectivo, a originalidade de cada expresso
singular e encerra numa coerncia artificial a pluralidade dos sistemas de crena e os modos
de raciocnio que um mesmo grupo ou um mesmo indivduo pode mobilizar sucessivamente.
Lloyd prope por conseguinte que se substitua a noo de mentalidade pela de estilos
de racionalidade cujo emprego depende directamente dos contextos de discurso e de registros
de experincias. Cada um destes impe regras e convenes prprias, define uma forma
especfica de comunicao, pressupe expectativas particulares. por isso que totalmente
27
impossvel submeter a pluralidade das maneiras de pensar, de conhecer e de argumentar a
uma mentalidade homognea e nica.
O processo talvez fosse injusto dado que a histria das mentalidades no reteve e
aplicou apenas uma definio globalizante da noo. Soube estar atenta s distines sociais
que comandam, numa mesma sociedade, diferentes maneiras de pensar e de sentir ou diversas
vises do mundo e nem sempre ignorou a presena possvel, num mesmo indivduo, de vrias
mentalidades, distintas ou mesmo contraditrias. Porm, mesmo se excessiva, a crtica
conduzida contra a modalidade dominante da histria cultural abriu caminho a novas
maneiras de pensar as produes e as prticas culturais. Do exterior ou do interior da tradio
dos Annales, estas novas perspectivas partilharam um certo nmero de exigncias: a de
privilegiar os usos individuais em desfavor das distribuies estatsticas, a de considerar,
contra a suposta eficcia dos modelos e normas culturais, as modalidades especficas da sua
apropriao, a de conceber as representaes do mundo social como constitutivas das
diferenas e das lutas que caracterizam as sociedades. So estas deslocamentos, concretizados
no recorte e na anlise dos objectos histricos, que a categoria de new cultural history
pretendia designar e reunir em 1989.
A histria cultural: uma definio impossvel?
Neste incio do sculo XXI, como avaliar as trajectrias que marcaram a histria
cultural? Ainda que hoje se tenha tornado dominante, no tarefa fcil defini-la na sua
especificidade. Devemos faz-lo a partir dos objectos e das prticas cujo estudo constituiria a
especificidade desta histria? grande o risco de no conseguir traar uma fronteira segura e
ntida entre a histria cultural e outras histrias: histria das ideias, histria da literatura,
histria da arte, histria da educao, histria dos media, histria das cincias, etc.
Deveremos, desde logo, mudar de perspectiva e considerar que toda a histria, qualquer que
ela seja, econmica ou social, demogrfica ou poltica, cultural, e isto, na medida em que
todos os gestos, todos os comportamentos, todos os fenmenos, objectivamente mensurveis
so sempre resultado dos significados que os indivduos atribuem s coisas, s palavras e s
aces? Nesta perspectiva, fundamentalmente antropolgica, o risco o de uma definio
imperialista da categoria que, ao identificar-se com a prpria histria, conduz sua
dissoluo.
Esta dificuldade tem a sua principal razo na multiciplidade de acepes do termo
cultura. Elas podem ser esquematicamente distribudas em duas famlias de significaes: a
que designa as obras e os gestos que, numa dada sociedade, se subtraem s urgncias do
quotidiano e se submetem a um juzo esttico ou intelectual; a que visa as prticas vulgares
atravs das quais uma comunidade, qualquer que ela seja, vive e reflecte a sua relao com o
mundo, com os outros, ou com ela prpria.
A primeira ordem de significaes leva a construir a histria dos textos, das obras e
das prticas culturais como uma histria de dimenso dupla. o que prope Carl Schorske:
The historian seeks to locate and interpret the artefact temporally in a field where
two lines intersect. One line is vertical, or diachronic, by which he establishes the
relation of a text or a system of thought to previous expressions in the same
branch of cultural activity (painting, politics, etc.). The other is horizontal, or
synchronic; by it he assesses the relation of the content of the intellectual object to
what is appearing in other branches or aspects of a culture at the same time
(Schorske, 1979, xxi-xxii).
28
Trata-se por conseguinte de pensar cada produo cultural ao mesmo tempo na histria
de um gnero, da disciplina ou do campo em que se inscreve e nas suas relaes com as outras
criaes estticas ou intelectuais e as outras prticas culturais que lhe so contemporneas.
Estas ltimas remetem para a segunda famlia de definies de cultura. Ela apoia-se
fortemente sobre a acepo que a antropologia simblica confere noo - e em particular
Clifford Geertz:
The culture concept to which I adhere [...] denotes an historically transmitted
pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions
expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate,
and develop their knowledge about and attitudes towards life (Geertz, 1973, 89).
A cultura de uma comunidade ser portanto a totalidade das linguagens e das aces
simblicas que lhe so prprias. Por isso a ateno que os historiadores inspirados pela
antropologia prestam s manifestaes colectivas onde um sistema cultural se enuncia de
forma paroxstica: rituais de violncia, ritos de passagem, festas carnavalescas, etc. (Davis,
1975, Darnton, 1982).
Representaes comuns e obras singulares
De acordo com as suas diferentes heranas e tradies, a new cultural history
privilegiou objectos, domnios e mtodos diferentes. Seria impossvel fazer o seu inventrio.
Sem dvida mais pertinente a identificao de algumas questes comuns a estas abordagens
to diversas. Um primeiro desafio diz respeito articulao necessria entre as obras
singulares e as representaes comuns. A questo essencial que aqui se coloca a do processo
pelo qual os leitores, os espectadores ou os ouvintes do sentido aos textos de que se
apropriam. A interrogao levou a uma reaco contra o estrito formalismo da Nouvelle
critique ou do New Criticism, e fondamentou todas as abordagens que quiseram pensar a
produo da significao como construda na relao entre os leitores e os textos.
O projecto assumiu formas diversas no seio da crtica literria, centrando a ateno,
seja na relao dialgica entre as propostas das obras e as categorias estticas e interpretativas
dos seus pblicos (Jauss, 1974), seja sobre a interaco dinmica entre o texto e o seu leitor,
entendido numa perspectiva fenomenolgica (Iser, 1976), seja sobre as transaces que
ocorrem entre as prprias obras e os discursos ou as prticas vulgares que so, ao mesmo
tempo, as matrizes da criao esttica e as condies da sua inteligibilidade (Greenblatt,
1988).
Abordagens semelhantes obrigaram ao afastamento face a todas as leituras
estruturalistas ou semiticas que remetiam o sentido das obras exclusivamente para o
funcionamento automtico e impessoal da linguagem. Mais aquelas tornaram-se, por sua vez,
o alvo das crticas da new cultural history. Por um lado, elas consideram frequentemente os
textos como existindo em si mesmos, independentemente dos objectos e vozes que os
transmitem. Uma leitura cultural das obras deve lembrar que as formas que as do a ler, a
ouvir ou a ver os textos, tambm participam na construo do seu sentido. Da a importncia
reconquistada pelas disciplinas ligadas descrio rigorosa dos objectos escritos que
sustentam os textos: a paleografia, a codicologia, a bibliografia (McKenzie, 1986, Petrucci,
1995). Da tambm a ateno prestada historicidade primeira dos textos, aquela que lhes
vem do cruzamento entre as categorias de designao e de classificao dos discursos
prprios de um tempo, e a sua materialidade, entendida como o modo da sua inscrio sobre a
pgina, ou da sua distribuio no objecto escrito (De Grazia e Stallybrass, 1993).
29
Por outro lado, as abordagens crticas que consideraram a leitura como uma
"recepo" ou uma "resposta" universalizaram implicitamente o processo de leitura, tomando-
o como um acto cujas circunstncias e modalidades concretas no teriam importncia. Contra
um tal apagamento da historicidade do leitor, preciso lembrar que tambm a leitura tem uma
histria (e uma sociologia) e que a significao dos textos depende das capacidades, das
competncias e das prticas de leitura prprias s comunidades que constituem, na sincronia
ou na diacronia, os seus diferentes pblicos (Cavallo e Chartier (eds.), 1995, Bouza, 1999). A
"sociologia dos textos", entendida maneira de D. F. McKenzie, tem pois por objecto o
estudo das modalidades de publicao, de disseminao e de apropriao dos textos.
Considera o "mundo do texto" como um mundo de objectos e de "performances" e o "mundo
do leitor" como o da "comunidade de interpretao" (Fish, 1980) qual pertence e que define
um mesmo conjunto de competncias, de normas e de usos.
Apoiada na tradio bibliogrfica, a "sociologia dos textos" coloca a tnica sobre a
materialidade do texto e a historicidade do leitor com uma dupla inteno. Trata-se, por um
lado, de identificar os efeitos produzidos sobre o estatuto, a classificao e a percepo de
uma obra por meio das transformaes da sua forma manuscrita ou impressa. Por outro lado,
trata-se de mostrar que as modalidades prprias da publicao dos textos antes do sculo
XVIII pem em questo a estabilidade e a pertinncia das categorias que a crtica associa
espontaneamente literatura: tais como as de obra, autor, personagem, propiedade
literaria, livro, etc..
Esta dupla ateno fundamento da definio de objetos de investigao prprios a
uma abordagem cultural das obras (o que no quer dizer que sejam especficas a tal ou tal
disciplina constituda). Ais objetos so as variaes histricas dos critrios que definem a
"literatura"; as modalidades e os instrumentos de construo dos reportrios de obras
cannicas; os efeitos das restries exercidos pelo mecenato, as academias ou o mercado
sobre a criao literria; ou ainda a anlise dos diversos actores (copistas, editores,
impressores,, tipgrafos, corrctores, etc.) e das diferentes operaes implicadas no processo
de publicao dos textos.
Produzidas numa ordem especfica, as obras fogem dela e assumem a sua existncia
sendo investidas por significaes que lhes atribuem, por vezes na muito longa durao, os
seus diferentes pblicos. Assim, o que necessrio pensar a articulao paradoxal entre uma
diferena - aquela pela qual todas as sociedades, em modalidades variveis, separaram um
domnio particular de produes, de experincias e de prazeres - e dependncias - aquelas que
tornam a inveno esttica ou intelectual possvel e inteligvel, quando essa inveno
inscrita no mundo social e no sistema simblico dos seus leitores ou espectadores (Chartier,
1998). O cruzamento indito de abordagens durante muito tempo estranhas entre si (a crtica
textual, a histria do livro, a sociologia cultural), mas reunidas pelo projecto da histria
cultural, enfrenta tambm um desafio fundamental: isto de compreender como as
apropriaes particulares e inventivas dos leitores singulares (ou dos espectadores) dependem,
globalmente, dos efeitos de sentido visados pelas prprias obras, dos usos e das significaes
impostas pelas formas materiales da sua publicao e circulao, e das competncias,
categorias e representaes que dominam a relao que cada comunidade tem com os
diferentes discursos.
O erudito e o popular
Uma segunda questo que mobilizou a new cultural history a das relaes entre
cultura popular e cultura erudita. Pode-se reduzir os modos de conceber essas relaes a dois
grandes modelos de descrio e de interpretao. O primeiro, desejoso de abolir todas as
30
formas de etnocentrismo cultural, trata a cultura popular como um sistema simblico coerente
e autnomo, que se organiza segundo uma lgica estranha e irredutvel lgica da cultura
letrada. O segundo, preocupado em fazer ver a existncia das relaes de dominao e das
desigualdades do mundo social, compreende a cultura popular a partir das suas dependncias
e das suas carncias face cultura dos dominantes. De um lado, por conseguinte, a cultura
popular pensada como um sistema simblico autnomo, independente, fechado sobre si
mesmo; do outro, ela inteiramente definida pela sua distncia face legitimidade cultural.
Os historiadores oscilaram durante muito tempo entre estas duas perspectivas, como o
mostram os trabalhos sobre a religio ou a literatura, tidas como especificamente populares, e
a construo de uma oposio, reiterada ao longo do tempo, entre a idade de ouro de uma
cultura popular livre e vigorosa, e uma idade de ferro onde as censuras e os constrangimentos
a condenaram e a desmantelaram.
Os trabalhos de histria cultural levaram a recusar tais distines to categricas. Para
comear, claro que o esquema que ope esplendor e misria da cultura popular no
adequado poca moderna, entre sculos XVI e XVIII. Encontramo-lo nos medievalistas que
designam o sculo XIII como o tempo de uma aculturao crist, que destruiu as tradies da
cultura popular laica dos sculos XI e XII. Caracteriza, igualmente, a oscilao que faz passar
entre 1870 e 1914 as sociedades ocidentais de uma cultura tradicional, camponesa e popular,
para uma cultura nacional homognea, unificada, aberta. E um tal contraste distinguiria no
sculo XX a nova cultura de massas imposta pelos novas media e uma cultura oral,
comunitria e criadora. O destino historiogrfico da cultura popular , assim, o de estar
sempre apagada, mas tambm como o passaro fenix o de sempre renascer. O verdadeiro
problema no , pois, datar o desaparecimento supostamente irremedivel de uma cultura
dominada, por exemplo, em 1600 ou 1650 (Burke, 1978), mas compreender como, em cada
poca, se tecem relaes complexas entre formas impostas, mais ou menos restritivas, e
identidades salvaguardadas, mais ou menos alteradas.
A fora dos modelos culturais dominantes no anula o espao prprio da sua recepo.
Existe sempre uma distncia entre a norma e o vivido, o dogma e a crena, os mandamentos e
os comportamentos. nessa distncia que se insinuam reformulaes e desvios, apropriaes
e resistncias (De Certeau, 1980). Pelo contrrio, a imposio de disciplinas inditas, o
inculcar de novas submisses, a definio de novas regras de comportamento devem sempre
compor ou negociar com representaes enraizadas e tradies partilhadas. pois intil
querer identificar a cultura, a religio ou a literatura "popular" a partir de prticas, de crenas
ou de textos que lhes seriam especficos. Uma tal constatao levou a considerar,
globalmente, os mecanismos que interiorizam, pelos dominados a sua prpria inferioridade ou
ilegitimidade, e as lgicas graas s quais uma cultura dominada chega a preservar alguma
parte da sua coerncia simblica. A lio vale tanto para o confronto entre os clrigos e as
populaes rurais na velha Europa (Ginzburg, 1976) como para as relaes entre vencidos e
vencedores no mundo colonial (Gruzinski, 1988).
Discursos e prticas
Um outro desafio lanado histria cultural, quaisquer que sejam as suas abordagens e
objectos, diz respeito articulao entre prticas e discursos. O colocar em questo das
antigas certezas tomou a forma do linguistic turn que se baseia em duas ideias essenciais:
que a linguagem um sistema de signos cujas relaes produzem a partir delas prprias
significaes mltiplas e instveis, fora de qualquer inteno subjectiva; que a "realidade" no
uma referncia objectiva, exterior ao discurso, mas sempre construda na e pela
linguagem. Uma tal perspectiva considera que os interesses sociais nunca so uma realidade
preexistente mas so sempre o resultado de uma construo simblica e lingustica, e
31
considera que toda a prtica, qualquer que ela seja, est situada na ordem do discurso (Baker,
1990).
Contra estes postulados, muitos lembraram que, se as prticas antigas no so a maior
parte das vezes acessveis seno atravs de textos que as representam ou organizam,
prescrevem ou proscrevem, isto no implica, contudo, a confuso entre as duas lgicas: a
lgica que governa a produo e a recepo dos discursos e a lgica que regula
comportamentos e aces. Para pensar essa irredutibilidade entre a experincia e o discurso,
entre a lgica prtica e lgica logocntrica, os historiadores encontraram apoio na distino
proposta por Foucault entre "formaes discursivas" e "sistemas no discursivos" (Foucault,
1969) ou aquela estabelecida por Bourdieu entre "sentido prtico" e "razo escolstica"
(Bourdieu, 1997).
Tais distines levam a ter cuidado contra um uso incontrolado da noo de "texto",
com frequncia indevidamente aplicada a prticas cujos processos no so de modo nenhum
parecidos com as estratgias que governam os enunciados dos discursos. Por outro lado, elas
levam a pensar que a construo de interesses pelas linguagens disponveis num dado tempo
ela prpria limitada pela desigualdade de recursos (materiais, lingusticos e conceptuais) de
que os indivduos dispem. As propriedades e as posies sociais que caracterizam, nas suas
distncias, os diferentes grupos e classes sociais, no so um efeito dos discursos, mas
designam as suas condies de possibilidade.
O objecto fundamental de uma histria que visa reconhecer a maneira pela qual os
actores sociais do sentido s suas prticas e aos seus enunciados situa-se, portanto, na tenso
entre, de um lado, as capacidades inventivas dos indivduos ou das comunidades e, do outro,
as restries e as convenes que limitam - com mais ou menos fora segundo as posies
que ocupam nas relaes de dominao - o que lhes possvel pensar, dizer e fazer. A
constatao vale para as obras intelectuales e as criaes estticas, sempre inscritas nas
heranas e nas referncias que as tornam concebveis, comunicveis e compreensveis. Vale,
igualmente, para todas as prticas vulgares, disseminadas, silenciosas, que inventam o
quotidiano.
a partir de uma tal constatao que se deve compreender a releitura, pelos
historiadores, dos clssicos das cincias sociais (Elias, Weber, Durkheim, Mauss, Halbwachs)
e a importncia de um conceito como o de "representao" que, por si s, quase chegou a
designar a nova histria cultural. Esta noo permite, com efeito, ligar estreitamente as
posies e relaes sociais com o modo como indivduos e grupos se concebem e concebem
os outros. As representaes colectivas, definidas maneira da sociologia durkheimiana,
incorporam nos indivduos, sob a forma de esquemas de classificao o jugamentos, as
prprias divises do mundo social. So elas que suportam as diferentes modalidades de
exibio de identidade social ou da fora poltica, tal como os signos, os comportamentos e os
ritos os do a ver e crer. Enfim, as representaes colectivas e simblicas encontram na
existncia de representantes, individuais ou colectivos, concretos ou abstractos, as garantias
da sua estabilidade e da sua continuidade.
Nestes ltimos anos, os trabalhos de histria cultural fizeram largo uso desta tripla
acepo de representao. H duas razes essenciais para isso. De um lado, o recuo da
violncia entre os indivduos que caracteriza as sociedades ocidentais entre a Idade Mdia e o
sculo XVIII e que decorre do confisco (pelo menos tendencial) do Estado sobre o uso
legtimo da fora, substituiu os confrontos directos, brutais e sangrentos, pelas lutas que tm
as representaes como instrumento e como aposta (Elias, 1939). Por outro lado, a autoridade
de um poder ou a dominao de um grupo dependem do crdito concedido ou recusado s
representaes que esse grupo prope de si mesmo. A new cultural history props assim
histria poltica que as relaes de poder sejam tratadas como relaes de foras simblicas e
a histria social que as relaens de dominao sejam tratadas a partir da aceitao ou da
32
rejeio pelos dominados das representaes que visam assegurar e perpetuar a sua sujeio.
Assim o vonceito de violncia simblica, que pressupe que quem a sofre contribui para a sua
eficcia pela interiorizao da sua legitimidade (Bourdieu, 1989) transformou profundamente
a compreenso do exerccio da autoridade, baseado na adeso aos signos, ritos e imagens que
a mostram e produzem a obedincia (Marin, 1981, Bouza, 1999); da construo de
identidades sociais ou religiosas, situada nas tenses entre as representaes impostas pelos
poderes ou as ortodoxias e a conscincia de pertencimento de cada comunidade (Ginzburg,
1966, Geremek, 1980); ou ainda das relaes entre os sexos, pensadas como o inculcar, pelas
representaes e pelas prticas, da dominao masculina e como afirmao de uma identidade
feminina prpria, enunciada com ou sem consentimento, pela apropriao ou a recusa dos
modelos impostos (Duby e Perrot eds., 1990-92, Scott, 1996, Bourdieu, 1998).
A reflexo sobre a definio de identidades sexuais, que Lynn Hunt referia em 1989
como um dos traos originais da new cultural history constitui uma ilustrao exemplar da
exigncia que est presente hoje em toda a prtica histrica: a saber, a de compreender como
os discursos constroem relaes de dominao e como eles prprios esto dependentes de
recursos desiguais e de interesses contrrios que separam aqueles cujo poder legitimo
daqueles que so sumissos, o submissas as representaes dominantes. A histria das
mulheres formulada nos termos de uma histriaa das relaens entre os sexos, ilustra bem o
desafio lanado hoje em dia aos hostoriadores : articular a construo discursiva do social
com a construo social dos discursos.
A coerncia da new cultural history ser to forte como o proclamava Lynn Hunt? A
diversidade dos objectos da investigao, das perspectivas metodolgicas e das referncias
tericas que caracterizam, nestes ltimos dez anos, a histria cultural, qualquer que seja a
definio que dela se d, permite-nos ter dvidas. Seria muito arriscado juntar numa mesma
categoria os trabalhos mencionados neste breve ensaio. O que fica, no entanto, um conjunto
de questes e de exigncias partilhadas independentemente de fronteiras entre disciplinas,
entre teorias, entre campos. Neste sentido, a new cultural history no , ou j no definida
pela unidade da sua abordagem, mas pelo espao de intercmbio e de debates construdo entre
os pesquisadores que recusam a reduo dos fenmenos histricos numa s vertente.
Afastando tanto as iluses do "linguistic turn" quanto o primado absoluto do poltico ou do
social. Essa comunidade invisivel de investigadores procura levar em conta as mltiples
dimensens da realidade histrirca e, assim, prtica a histria cultural sem necessariamente
defin-la.
Bibliografia:
As obras so citadas na lngua e com a data da sua primeira edio:
Aris, Philippe, L'Homme devant la mort, Paris, Editions du Seuil, 1977.
Baker, Keith M., Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the
Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
Bourdieu, Pierre, La Noblesse d'Etat. Grandes coles et esprit de corps, Paris, Les Editions de
Minuit, 1989.
Bourdieu, Pierre, Mditations pascaliennes, Paris, Editions du Seuil, 1997.
Bourdieu, Pierre, La domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998.
Bouza, Fernando, Imagen y propaganda. Captulos de historia cultural del reinado de Felipe
II, Madrid, Akal, 1998.
Bouza, Fernando, Comunicacin, conocimiento y memoria en la Espaa de lo siglos XVI y
XVII, Salamanca, Publicacin del SEMYR, 1999.
33
Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe, London, Maurice Temple Smith,
1978.
Cavallo, Guglielmo, e Chartier, Roger (eds.), Storia della lettura nel mondo occidentale,
Roma-Bari, Editori Laterza, 1995.
Chartier, Roger, Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes et inquitude, Paris, Albin,
Michel, 1998.
Darnton, Robert, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History.
New York, Basic Books, 1982.
Davis, Natalie Zemon, Society and Culture in Early Modern France. Stanford, Stanford
University Press, 1975.
De Certeau, Michel, L'Invention du quotidien, 1, Arts de faire, Paris, U.G.E., 1980; reedio,
Paris, Gallimard, 1990.
De Grazia, Margreta, e Stallybrass, Peter, The Materiality of the Shakepearean Text,
Shakespeare Quarterly, Volume 44, Number 3, 1993, pp. 255-283.
Duby, Georges, e Perrot, Michle (eds.), Storia delle donne, Roma-Bari, Editori Laterza,
1990-92.
Elias, Norbert, Uber den Prozess der Ziviliation. Soziogenetische und pychogenetische
Untersuchungen, Ble, 1939 (reedies Berna, Verlag Francke AG, 1969, e Frankfurt
am Main, Suhrkamp Verlag, 1979).
Fish, Stanley, Is There a Text in This Class ?: The Authority of Interpretive Communities,
Cambridge, Mass., e London, Harvard University Press, 1980.
Foucault, Michel, L'Archologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
Geertz, Clifford, The Interpretation of Culture, Basic Books, New York, 1973.
Geremek, Bronislaw, Inutiles au monde. Truands et misrables dans l'Europe moderne
(1350-1600), Paris, Gallimard e Julliard, 1980.
Ginzburg, Carlo, I Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Torino,
Giulio Einaudi editore, 1966.
Ginzburg, Carlo Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del'500. Torino, Giulio
Einaudi editore, 1976.
Greenblatt, Stephen, Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in
Renaissance England, Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1988.
Gruzinski, Serge, La colonisation de l'imaginaire. Socits indignes et occidentalisation
dans le Mexique espagnol, XVIe-XVIIIe sicles, Paris, Gallimard, 1988.
Hunt, Lynn (ed.), The New Cultural History, Berkeley, Los Angeles e London, University of
California Press, 1989.
Iser, Wofgang, Der Akt des Lesens, Munchen, Wilhelm Fink Verlag, 1976.
Jauss, Hans Robert, Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt am Main, Suhrkamp
Verlag, 1974.
LaCapra, Dominick, e Kaplan, Steven L. (eds.), Modern European Intellectual History.
Reappraisals and New Perspectives, Ithaca e London, Cornell University Press, 1982.
Le Goff, Jacques, Les mentalits. Une histoire ambigu, Faire de l'Histoire, Paris, 1974,
tome III, pp. 76-94.
Lloyd, Geoffrey, Demystifying Mentalities, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
Mandrou, Robert, Introduction la France moderne, 1500-1640. Essai de psychologie
historique. Paris, Albin Michel, 1961 (reedio 1998).
34
McKenzie, D. F., Bibliography and the sociology of texts, The Panizzi Lectures 1985,
London, The British Library, 1986.
Petrucci, Armando, Writers and Readers in Medieval Italy: Studies in the History of Written
Culture, New Haven e London, Yale Universitty Press, 1995.
Schorske, Carl, Fin-de-sicle Vienna. Politics and Culture, New York, Cambridge University
Press, 1979.
Scott, Joan, Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man, Cambridge,
Mass., e London, Harvard University Press, 1996.
Venturi, Franco, Utopia e riforma nell'Illuminismo , Torino, Einaudi editore,1970.
También podría gustarte
- Horários Especial de Aula - EJA Etapa 2Documento6 páginasHorários Especial de Aula - EJA Etapa 2Danielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Horários Especial de Aula - Anos FinaisDocumento24 páginasHorários Especial de Aula - Anos FinaisDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Horário Especial de Aula - EJA Etapa 1Documento6 páginasHorário Especial de Aula - EJA Etapa 1Danielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Horário Especial de Aula - Anos Finais Tabela de AulaDocumento10 páginasHorário Especial de Aula - Anos Finais Tabela de AulaDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 469sINn7187SQTlg82338asIr3399TdGARxcUt35uHH994Vtt30367jfuPt289mLhWW5973n2485014tlyj855 PDFDocumento1 página469sINn7187SQTlg82338asIr3399TdGARxcUt35uHH994Vtt30367jfuPt289mLhWW5973n2485014tlyj855 PDFDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 6 Ano Geografia 2 SemanaDocumento3 páginas6 Ano Geografia 2 SemanaDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 004 - Fronza - Sobanski - Chaves - Bertolini - Fontes - HistóricasDocumento34 páginas004 - Fronza - Sobanski - Chaves - Bertolini - Fontes - HistóricasDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Horários de Aula - Anos IniciaisDocumento30 páginasHorários de Aula - Anos IniciaisDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Horário Especial de Aula - EJA Etapa 1Documento6 páginasHorário Especial de Aula - EJA Etapa 1Danielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Parâmetro Curricular E O Livro Didático No Brasil: Um Saber Necessário Ao ProfessorDocumento5 páginasParâmetro Curricular E O Livro Didático No Brasil: Um Saber Necessário Ao ProfessorDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Relatorio PDFDocumento1 páginaRelatorio PDFDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 2 PBDocumento13 páginas2 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Parâmetro Curricular E O Livro Didático No Brasil: Um Saber Necessário Ao ProfessorDocumento5 páginasParâmetro Curricular E O Livro Didático No Brasil: Um Saber Necessário Ao ProfessorDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Calendário escolar e atividades de novembroDocumento15 páginasCalendário escolar e atividades de novembroDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Espanha Aprova Lei Que Obriga Ensino Sobre Ditadura Franquista Nas EscolasDocumento1 páginaEspanha Aprova Lei Que Obriga Ensino Sobre Ditadura Franquista Nas EscolasDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento15 páginas1 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- História na Base Nacional e novos dilemasDocumento21 páginasHistória na Base Nacional e novos dilemasAdilson RodriguesAún no hay calificaciones
- OcularcentrismoDocumento5 páginasOcularcentrismoadrianatrujillouribeAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento23 páginas1 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento15 páginas1 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Progressão do conhecimento histórico na produção brasileira (2014-2019Documento13 páginasProgressão do conhecimento histórico na produção brasileira (2014-2019Danielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Um Silencio HistoriográficoDocumento17 páginasUm Silencio HistoriográficoDavison RochaAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento23 páginas1 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento27 páginas1 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Guia de Pais e ResponsáveisDocumento39 páginasGuia de Pais e ResponsáveisDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento27 páginas1 PBDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- História na Base Nacional e novos dilemasDocumento21 páginasHistória na Base Nacional e novos dilemasAdilson RodriguesAún no hay calificaciones
- Um Silencio HistoriográficoDocumento17 páginasUm Silencio HistoriográficoDavison RochaAún no hay calificaciones
- Dialnet AprendizagemBaseadaEmProjetos 6382602Documento10 páginasDialnet AprendizagemBaseadaEmProjetos 6382602Danielle FerreiraAún no hay calificaciones
- Empatia e respeito nas relaçõesDocumento6 páginasEmpatia e respeito nas relaçõesDanielle FerreiraAún no hay calificaciones
- VenetaDocumento6 páginasVenetaVinícius LugeAún no hay calificaciones
- Auto Da CompadecidaDocumento2 páginasAuto Da CompadecidavalesktedeAún no hay calificaciones
- Significado Do Evangelho Oculto em Gênesis - Genealogia de AdãoDocumento10 páginasSignificado Do Evangelho Oculto em Gênesis - Genealogia de AdãoNSPERES_Aún no hay calificaciones
- Alice No Pais Das Maravilhas Do Texto de Lewis CarDocumento15 páginasAlice No Pais Das Maravilhas Do Texto de Lewis CarDani OliveiraAún no hay calificaciones
- Roteiro Dom CasmurroDocumento6 páginasRoteiro Dom CasmurroRafael ManaraAún no hay calificaciones
- Lab8 Boas NoitesDocumento4 páginasLab8 Boas NoitesPaula Loureiro FagulhaAún no hay calificaciones
- Apocalipse - Gênero LiterárioDocumento8 páginasApocalipse - Gênero LiterárioAerto da SilvaAún no hay calificaciones
- Orando o Pai Nosso: Pai Nosso Que Estás Nos Céus Com Matthew HenryDocumento2 páginasOrando o Pai Nosso: Pai Nosso Que Estás Nos Céus Com Matthew HenryDani CarvalhoAún no hay calificaciones
- Avaliação na educação: funções e tipos de avaliaçãoDocumento13 páginasAvaliação na educação: funções e tipos de avaliaçãoRobertoCagliaLimaAún no hay calificaciones
- CONVITE - Contos Marginais - História Na UmbandaDocumento5 páginasCONVITE - Contos Marginais - História Na UmbandaEdimar N. MonteiroAún no hay calificaciones
- Avaliação diagnóstica para leitura e matemáticaDocumento3 páginasAvaliação diagnóstica para leitura e matemáticaThaís ViannaAún no hay calificaciones
- Corbin, Alain - Territorio Do Vazio - A Praia e o Imaginário Ocidental - Caps. I e IIDocumento23 páginasCorbin, Alain - Territorio Do Vazio - A Praia e o Imaginário Ocidental - Caps. I e IIGustavo Alonso100% (1)
- Livro de SalmosDocumento4 páginasLivro de SalmosCarlos Cesar100% (1)
- A poética do Manguebeat e a representação da cidade do RecifeDocumento171 páginasA poética do Manguebeat e a representação da cidade do RecifeRenata CarvalhoAún no hay calificaciones
- D20212 Bacharelado em Francês Formação LivreDocumento11 páginasD20212 Bacharelado em Francês Formação LivreDennys Silva-ReisAún no hay calificaciones
- A Hora Da Estrela - Material de ApoioDocumento119 páginasA Hora Da Estrela - Material de ApoioFabiana Cardoso da FonsecaAún no hay calificaciones
- Espaço e Poesia AtualizadoDocumento265 páginasEspaço e Poesia AtualizadoAna CarolineAún no hay calificaciones
- Orações CoordenadasDocumento3 páginasOrações CoordenadasMarlene PastorAún no hay calificaciones
- Como Escrever Um Artigo Academico - Prof. Alvaro BianchiDocumento34 páginasComo Escrever Um Artigo Academico - Prof. Alvaro BianchiAlmir GutierrezAún no hay calificaciones
- A Fada Oriana salva um peixeDocumento2 páginasA Fada Oriana salva um peixeLili FAún no hay calificaciones
- PtEp 230720 225602Documento5 páginasPtEp 230720 225602sara887878Aún no hay calificaciones
- Saudação não é exclusiva do portuguêsDocumento8 páginasSaudação não é exclusiva do portuguêsRenan MatheusAún no hay calificaciones
- Um vaso de bênçãoDocumento2 páginasUm vaso de bênçãoRute Freitas100% (1)
- A história do menino que aprendeu a lerDocumento18 páginasA história do menino que aprendeu a lerValeria Leitão Lima100% (2)
- GUIA ESCRITA 7EFDocumento6 páginasGUIA ESCRITA 7EFBeatriz GomesAún no hay calificaciones
- Lição 4 (4º Trim. 2019) BRADocumento9 páginasLição 4 (4º Trim. 2019) BRAElton Batista de SouzaAún no hay calificaciones
- O Sorriso de MonalisaDocumento5 páginasO Sorriso de MonalisaCeleste Azul del CieloAún no hay calificaciones
- Guia Normalização UnintaDocumento88 páginasGuia Normalização UnintaWanderson AlmeidaAún no hay calificaciones
- A Análise Do Texto de Êxodo 32,1-6Documento38 páginasA Análise Do Texto de Êxodo 32,1-6Maurício Dos Santos FerreiraAún no hay calificaciones
- Melhores Contos - Salim MiguelDocumento108 páginasMelhores Contos - Salim MiguelQuindiAnchetas Regala SonrisasAún no hay calificaciones