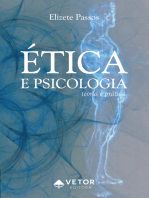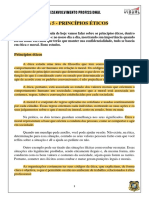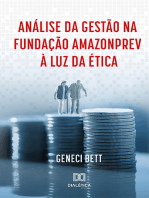Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A Questão Ética Na Educação Escolar
Cargado por
Hebert RobertoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
A Questão Ética Na Educação Escolar
Cargado por
Hebert RobertoCopyright:
Formatos disponibles
A Questo tica na Educao Escolar
Jlio Groppa Aquino docente da Faculdade de Educao da USP (rea de Psicologia da Educao), com graduao em Psicologia pela UNESP, e mestrado e doutorado em Psicologia Escolar pelo Instituto de Psicologia da USP
http://www.senac.br/boletim/boltec251a.htm
Jlio Groppa Aquino. A questo tica na educao escolar. O presente artigo visa problematizao da questo tica no espectro das prticas escolares, particularmente no que diz respeito ao docente. Para tanto, prope uma configurao inicial do tema em diferentes mbitos da ao humana, para depois configur-lo teoricamente, distinguindo alguns de seus matizes conceituais. Em seguida, discute a incluso do tema no campo educacional por meio da proposio de alguns valores e preceitos mnimos no que tange ao pedaggica e ao convvio entre os pares escolares.
A Questo tica na Educao Escolar
Jlio Groppa Aquino* Jlio Groppa Aquino. A questo tica na educao escolar. O presente artigo visa problematizao da questo tica no espectro das prticas escolares, particularmente no que diz respeito ao docente. Para tanto, prope uma configurao inicial do tema em diferentes mbitos da ao humana, para depois configur-lo teoricamente, distinguindo alguns de seus matizes conceituais. Em seguida, discute a incluso do tema no campo educacional por meio da proposio de alguns valores e preceitos mnimos no que tange ao pedaggica e ao convvio entre os pares escolares. *Jlio Groppa Aquino docente da Faculdade de Educao da USP (rea de Psicologia da Educao), com graduao em Psicologia pela UNESP, e mestrado e doutorado em Psicologia Escolar pelo Instituto de Psicologia da USP. No Brasil, a dcada de 80 e, em particular, a de 90 testemunharam mudanas vertiginosas no que se refere estruturao da vida social, ordenao do cotidiano das pessoas. Com a lenta e gradual democratizao das instituies polticas, que culminou com a solidificao do processo eleitoral em todos os nveis de representao poltica, viu-se nascer igualmente novas formas de organizao no interior das diferentes instituies sociais, antes amalgamadas de acordo com uma espcie de padro dominante e estvel de funcionamento. A famlia, a mdia, o mundo do trabalho, isso fato, no so mais os mesmos de vinte anos atrs. E, em geral, damos conotaes positivas a essas transformaes como algo positivo, afinal de contas, passamos a viver em um mundo mais flexvel, mais democrtico, ou, se se quiser, menos uniforme, menos opressivo. O mesmo pode ser dito com relao aos padres de comportamento, de sexualidade, de consumo, de educao dos filhos, de relao entre as pessoas, etc. Entretanto, no se pode negar que essas mesmas transformaes findaram por produzir rachaduras indelveis nos modos de funcionamento dessas instituies clssicas, e, por conseqncia, na maneira com que vnhamos concebendo os papis e funes desses atores sociais nucleares. Todos j ouvimos, ou sentimos na prpria pele, o bordo: "a crise da famlia", "a crise do casamento", "a crise das relaes de trabalho", "a crise da democracia". Essa idia to disseminada de descompasso ou desarranjo das instituies parece sinalizar um paradoxo: se, por um lado, as mltiplas e rpidas transformaes sciohistricas das ltimas dcadas propiciaram uma vivncia civil mais democratizante e
pluralista, por outro lado, elas tm sido tomadas, no raras vezes, como motivo de instabilidade e, portanto, de exasperao para esse homem de fim de sculo. No dia-adia, o que desponta, quase sempre, um tipo de indagao comum: nos dias de hoje, o que exatamente ser um bom pai, um bom companheiro, um bom profissional, e assim por diante? Uma situao exemplar dessa espcie de "mal-estar" civil pode ser verificada em alguns programas televisivos em voga, j h algum tempo, nas emissoras brasileiras. Em alguns deles se vem personagens confrontando-se com situaes dilemticas cujo desfecho "decidido" pelo telespectador, convocado a exercer alguma coisa parecida com o "sagrado direito" do voto. Em outros, sensivelmente mais explcitos, se vem dilemas corriqueiros da vida narrados, em ato, pelos seus prprios protagonistas, sempre enredados em algum tipo de trama confrontativa e de difcil soluo imediata. Verdicos ou no, sensacionalistas ou no, esses "shows da vida" parecem chamar a ateno de "gregos e troianos" pelo seu teor de perplexidade e comoo. Identificamonos com esses personagens/protagonistas sempre que eles se mostram incertos, inseguros quanto a como proceder frente s agruras de sua existncia concreta, s exigncias volteis de seu lugar social. Afinal, qual a conduta sustentvel ou desejvel ante determinados problemas da vida contempornea: pais s voltas com filhos rebeldes, enfermeiras e mdicos diante de quadros complexos, juzes e advogados premidos por circunstncias ambguas, polticos assediados por propostas ilcitas, consumidores insatisfeitos com vendedores ou prestadores de servios inescrupulosos, vizinhos em litgio aberto, relaes civis permeadas por intolerncia ou discriminao. O que parece se evidenciar quando se colocam em xeque esses impasses da vida coletiva uma demanda de "ressignificao" dos papis e funes dos atores das diferentes instituies que estruturam e condicionam nossa vida em sociedade. Em certo sentido, pode-se afirmar que tais discusses apontam invariavelmente para a questo tica, uma vez que se referem a procedimentos, condutas e aos valores a embutidos. Assim, a tica um daqueles temas que, a partir dessas duas dcadas, passaram a figurar como um dos grandes eixos de preocupao e discusso entre as pessoas. Discutimo-la, por exemplo, em determinados campos sociais: a tica na poltica ( correto trocar votos por facilidades?, receber propinas?); a tica na cincia ( correto fabricar clones humanos?; utilizar doentes como cobaias sem a sua anuncia?); a tica na religio ( correto condenar o aborto em quaisquer circunstncias?; trocar absolvies por doaes?). Discutimo-la tambm em certas prticas profissionais: a tica na medicina ( correto sonegar informaes ao paciente?; prolongar um tratamento visando lucro?); a tica na mdia ( correto expor tanta violncia?; desvelar publicamente a intimidade das pessoas?); ou ainda, a tica no aparelho policial ( correto perseguir mais freqentemente cidados negros?; atirar antes e perguntar depois?). Para todas essas perguntas temos respostas bvias, na ponta da lngua - o que significa que, mesmo que no consigamos vislumbrar uma conduta invariavelmente tica nesses campos, pelo menos deduzimos o que deve ou pode ser feito por esses atores institucionais, assim como o que no se deve ou no se pode fazer nesses mbitos da ao humana. Em linhas gerais, o que est em foco no enfrentamento tico de uma determinada prtica social ou profissional so as fronteiras desta ao (at onde se pode chegar?) e a "qualidade" do trabalho desenvolvido (como faz-lo?).
Sobre o conceito de tica
A despeito de se tratar de uma idia nebulosa e, de certa forma, controvertida, mas bastante recorrente nos dias de hoje, importante estabelecer um solo comum de significao para o termo. No dicionrio especializado de Lalande a tica entendida como "a cincia que toma por objecto imediato os juzos de apreciao sobre os actos qualificados de bons ou de maus1". J em um dicionrio comum, uma das acepes do
verbete tica remete ao "conjunto de princpios morais que se devem observar no exerccio de uma profisso; deontologia" (Michaelis,2). Amparados por esses dois significados clssicos, e ao mesmo tempo divergindo deles, entendemos que se trata do valor (o para qu) e da direo (o para onde) que atribumos a - ou subtramos de - determinadas prticas sociais/profissionais, desde que atreladas a certos preceitos, a certas condies de funcionamento. Ou seja, certas aes humanas requerem uma razovel visibilidade, tanto por aqueles que as praticam quanto por aqueles que delas so alvo, quanto a seus princpios e fins especficos, para que, na qualidade de meios, possam ser julgadas como procedentes, ou no, legtimas, ou no, eficazes, ou no. Nessa perspectiva, a tica pode ser compreendida inicialmente como aquilo que vetoriza determinada ao, ao ofertar-lhe uma origem e uma destinao especfica. Assim, por exemplo, estamos sempre a julgar se a conduta de um profissional foi condizente com o que dele se esperava, com aquilo que ele "deveria" fazer ou ter feito. Em outras palavras, acalentamos expectativas sobre determinadas prticas (e, por extenso, sobre determinadas condutas) e as "avaliamos" de acordo com o crivo de um "dever ser" caracterstico. talvez por essa razo que existem cdigos de tica para algumas carreiras, que sinalizam regras de conduta razoavelmente consensuais e, at certo ponto, suficientemente claras no s para o conjunto dos profissionais, mas tambm para os outros envolvidos. Isso no significa que tais regras implicariam necessariamente um conjunto invariante de normas pr-programadas que deveriam ser reproduzidas ipsis litteris por cada profissional em sua ao especfica, e, portanto, generalizadas para toda a categoria profissional. Mesmo porque a conduta sempre particularizada pelas condies pontuais: a clientela outra a cada vez e o prprio profissional diferente a cada vez porque constantemente transformado pela prpria ao. No obstante, imprescindvel que algumas regras comuns de conduta sejam conhecidas e praticadas pelos agentes daquela determinada prtica profissional em seu exerccio concreto, de tal forma que o campo de atuao seja preservado, resguardado de aes espontanestas, no sistematizadas, e, portanto, passveis de engodo ou ludbrio. Desse modo conseguimos obter, principalmente como clientes ou como usurios de determinado servio ou instituio, um pouco dessa clareza sobre a tica do agente institucional ou do profissional em questo, assim como sobre a validade da prtica em foco, quando nos damos por satisfeitos com o atendimento prestado, ou, ao contrrio, quando nele detectamos negligncia e/ou inoperncia. Entretanto, nem sempre essa relao entre aquele que avalia e aquele que avaliado simtrica, ou mesmo congruente, o que pode desencadear certos equvocos. E a que a noo de "tica" desponta como uma espcie de rbitro da ao, no que tange sua procedncia, sua legitimidade, sua eficcia. Nesse ponto, faz-se necessria uma distino conceitual. O campo da tica no se confunde com o das leis, e tampouco com o da moral. Trata-se de um campo suportado por regras at certo ponto facultativas, isto , que no exigem uma submisso inquestionvel, mas um engajamento autnomo, uma assuno voluntria, na medida em que prescrevem, no mximo, pautas possveis de convivncia entre os pares de determinada ao. Tais regras no so, portanto, nem dogmticas, como no caso da moral, nem compulsrias, como no caso das leis. Desta feita, as regras - vetores por excelncia do espectro tico de determinada ao - no primam por absolutizao. Elas, sempre relativas, no figuram necessariamente nem como verdadeiras nem como falsas, mas apenas funcionam ou no, podem ser obedecidas ou no, podem metamorfosear-se ou no, dependendo do contexto em que se concretizam. Trata-se de preceitos regionalizados, particularizados, nunca universais. Os campos legal e moral, por sua vez, so mais afeitos s normas, s prescries tcitas. Assim, os postulados morais e os legais so praticamente idnticos para todos, em detrimento do contexto especfico da ao, das circunstncias de sua execuo. Pode-se dizer que, em determinado contexto scio-histrico, eles sobrepairam, ou atravessam, o conjunto das prticas humanas indistintamente. No matar ou no roubar, por exemplo,
so, atualmente, postulados relativos a quaisquer aes humanas, e, mesmo vale lembrar, num caso limite como o da guerra. Nessa situao de conflito generalizado, pode-se dizer que possvel e necessrio matar, mas apenas militares inimigos, jamais os civis. No essa, afinal, uma das principais razes de ser dos tribunais de guerra? Outra diferena fundamental que o campo da tica muito mais mutante do que o da moral e o das leis, uma vez que se encontra em ebulio constante: julgamos "caso a caso", ponderamos "as circunstncias", levamos em conta os "antecedentes", etc. Alm disso, nem tudo o que considerado tico hoje o ser amanh. O mesmo no se pode dizer com relao moral e s leis. Seus preceitos nucleares persistem, so nossos velhos conhecidos. Note-se, assim, que a violao de um postulado tico no considerada automaticamente nem uma contraveno legal nem uma transgresso moral, mas tosomente uma "falta", uma vez que contraria um conjunto de preceitos tomados como necessrios, eficazes ou apenas positivos, "bons". Algo, pois, que teria sido "melhor" se tivesse sido de outra maneira. E isso o mximo a que a interpelao tica pode chegar. A propsito, de um ponto de vista psicolgico, pode-se dizer que s nos tornamos algum medida que nos posicionamos numa relao com outrem. So relaes, portanto, que nos constituem como sujeitos. Disso decorre que no se pode afirmar algo com absoluta segurana sobre Ana ou Joo se tomados em si mesmos, mas sobre Ana como me, ou como filha, como profissional, como amante, ou sobre Joo como amigo, como pai, como consumidor. Alm disso, h que se levar necessariamente em conta o outro, parceiro compulsrio da equao que nos institui como sujeito no (e do) mundo, a quem tomamos ora como objeto, oponente, modelo ou auxiliar em nossas aes. Ana s filha em relao sua me, ou profissional em relao a um cliente; Joo s pai em relao a seu filho, ou consumidor em relao a um vendedor. Portanto, disso decorre que as relaes/lugares institucionais passam a ser o ncleo e foco de ateno quando nos dispomos a enveredar pelo mbito tico das prticas sociais/profissionais. Partindo, ento, do pressuposto de que toda ao implica uma parceria entre semelhantes, embora desiguais, poder-se-ia sustentar que, de um ponto de vista institucional, uma espcie de "contrato" nos entrelaa, posicionando-nos imaginariamente em relao ao nosso outro complementar, bem como delimitando nossos respectivos lugares e procedimentos, e, conseqentemente, marcando a diferena estrutural que h entre eles. Um contrato invisvel mas com uma densidade extraordinria, posto que suas clusulas balizam silenciosamente o que fazemos e o que pensamos sobre o que fazemos. Uma espcie, enfim, de "liturgia" dos lugares, se se quiser. Em suma: o campo da tica fundamenta-se em torno da fidelidade, ou no, s regras de um determinado "jogo" institudo/instituinte, as quais evidenciam-se, principalmente, quando o jogo mal jogado. Uma vez bem jogado, elas submergem novamente, silenciam-se, retornam qualidade de pressuposto bsico. Um enunciado sinttico talvez possa aglutinar a complexidade do conceito: tica aquilo que, implicitamente, regula (ou deveria regular) determinada prtica social/profissional para os nela envolvidos. Ou, ainda mais condensadamente, aquilo a partir do que deriva nossa confiana no outro - aquela espcie de segurana ntima e apaziguadora a que se acede quando em boa companhia.
A tica na educao escolar: do currculo ao convvio
Se, como cidados (ou mesmo usurios), temos experimentado o hbito de avaliar certas prticas sociais e profissionais a que estamos ligados no dia-a-dia, no se pode dizer que o mesmo venha ocorrendo explicitamente e com a mesma freqncia quando colocamos a educao escolar em pauta. Raras so as vezes em que a discusso tica presenciada de modo explcito no campo pedaggico, principalmente entre os pares escolares - e a lacuna bibliogrfica sobre o tema uma evidncia mais que suficiente do estado incipiente das discusses na rea. Alm disso, se a escola uma das prticas sociais (e o trabalho pedaggico, uma das prticas profissionais) fundamentais da vida
civil contempornea, algo neles parece estar fora da ordem ou, no mnimo, em descompasso quando comparado efervescncia de outras instituies sociais. Entretanto, preciso reconhecer que, apesar dessa espcie de anacronismo e autoiseno, alguns esforos concretos vm sendo formalizados com o intuito de inaugurar um corpo de discusso sobre a questo tica na educao escolar. Estamos nos referindo aos Parmetros Curriculares Nacionais (PCNs),3 e particularmente aos "temas transversais" neles inseridos, os quais se referem a um conjunto de temticas sociais, presentes na vida cotidiana, que devero ser tangenciadas pelas reas curriculares especficas, impregnando "transversalmente" os contedos de cada disciplina. Foram eleitos, assim, os seguintes temas gerais: tica, pluralidade cultural, meio ambiente, sade, orientao sexual, alm de trabalho/consumo. Visando formulao de um conjunto de diretrizes pedaggicas gerais e especficas capaz de nortear os currculos e seus contedos mnimos em escala nacional, os PCNs so, sem sombra de dvida, uma iniciativa digna de interesse. No volume 8, dedicado apresentao dos temas transversais e especificamente tica, l-se o seguinte: Como o objetivo deste trabalho o de propor atividades que levem o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princpios, e no de receitas prontas, batizou-se o tema de tica /.../. Parte-se do pressuposto que preciso possuir critrios, valores, e, mais ainda, estabelecer relaes e hierarquias entre esses valores para nortear as aes em sociedade. 4 Dentro desse esprito dignificante, quatro eixos de contedos relativos ao tema foram selecionados, todos eles atrelados ao princpio bsico de dignidade do ser humano, a saber: respeito mtuo, justia, dilogo e solidariedade. Em que pesem as possveis controvrsias em torno dos prprios PCNs, quanto mais da incluso dos temas transversais nos currculos brasileiros, necessrio destacar que se trata de uma sistematizao substancial, uma vez que estrutura uma srie de questes imprescindveis a serem includas nos planos curricular e dos contedos da "educao moral" dos alunos. No obstante, o prprio documento alude a algo, a nosso ver, inusitado. Vejamos: Ao lado do trabalho de ensino, o convvio dentro da escola deve ser organizado de maneira que os conceitos de justia, respeito e solidariedade sejam vivificados e compreendidos pelos alunos como aliados perspectiva de uma "vida boa". Dessa forma, no somente os alunos percebero que esses valores e as regras decorrentes so coerentes com seus projetos de felicidade como sero integrados s suas personalidades: se respeitaro pelo fato de respeit-los. 5 H que se destacar, de imediato, a singularidade e a potncia de idias simples como as de "vida boa" e "felicidade". O que mais se quer quando se almeja a tica? No limite, poderamos acrescentar: a alegria e o bem-querer. Outro dado importante refere-se ao fato de que no basta ensinar conceitos e valores democratizantes, preciso que eles sejam "vivificados" no convvio intra-escolar, entre os pares da ao escolar, especialmente entre professores e alunos. esse, no nosso entender, o grande diferencial, ou ponto de partida, para uma discusso abrangente sobre a tica no terreno escolar - o que, em certo sentido, os PCNs deixam a desejar. Convm destacar que as reflexes aqui desenvolvidas em torno da tica como "convvio" no se confundem com os esforos de sistematizao da tica como "tema transversal", como se v nos PCNs. Embora uma no prescinda da outra, trata-se de discusses paralelas e at certo ponto autnomas, visto que a primeira visa os dilemas imanentes ao trabalho pedaggico lato sensu, enquanto a segunda enfoca prioritariamente o currculo e os contedos escolares stricto sensu. sobre o primeiro eixo, ou seja, o da tica como reguladora do convvio escolar, que pretendemos nos debruar a partir de agora. Se afirmamos anteriormente que o espectro tico de determinada prtica social/profissional se d a conhecer, pelo menos em parte, por meio das expectativas e da avaliao que a clientela e o pblico mais geral (a comunidade e as famlias, por
exemplo) operam quanto ao dos agentes/profissionais, cabe-nos agora indagar: o que se tem pensado e dito a respeito de ns, profissionais da educao? Estamos sendo avaliados, mesmo que informalmente, o tempo todo, e a imagem social da escola e do professor um bom exemplo do vigor de tal processo. O que, ento, tal imagem tem revelado particularmente sobre a profisso docente? No preciso reiterar que um nvel significativo de descrdito ronda a imagem que se cultiva de ns, tanto quanto uma considervel desesperana que ns prprios acalentamos sobre nosso trabalho. Em geral, conotamos essa profisso como algo "difcil", "penoso", um campo de trabalho povoado por obstculos, que vo desde aqueles ligados ao reconhecimento financeiro at aqueles de ordem metodolgica, processual. Para alguns mais insatisfeitos, chega-se imagem da docncia como "fardo" ou at como "sina". Duas passagens so exemplares nesse sentido: um adesivo que se viu circular com certa freqncia nos automveis brasileiros que exclamava ironicamente "hei de vencer mesmo sendo professor", e uma deciso do Congresso Nacional sobre a aposentadoria dos professores por ocasio dos debates em torno da reforma previdenciria. No primeiro caso, supomos, pela negativa, a profisso docente como um investimento invivel, fadado ao insucesso. No segundo, de acordo com nossos legisladores atuais, trata-se (nos casos do ensino fundamental e mdio - e por que no o superior?) de uma profisso digna de aposentadoria precoce, no mesmo patamar de outras profisses consideradas "insalubres" ou "perigosas", em que h risco de vida mediato ou imediato. Por que ser? A bem da verdade, valeria indagar: o que acaba sendo mais invivel, perigoso ou insalubre: a profisso mesma ou as condies de trabalho atuais? De todo modo, vale lembrar que essa imagem no parece ser to arbitrria, ou mesmo maquiavelicamente "tramada", como alguns gostam de pensar. Temos contra ns uma evidncia factual: grande parte do contingente de crianas que ingressam nas escolas no consegue "atravessar" impunemente o ensino fundamental, sedimentando a clebre "pirmide" educacional brasileira. Isto , a repetncia renitente, a evaso e a baixssima qualidade do ensino brasileiro findaram por constituir aquilo que alguns tericos, com propriedade, denominaram "cultura do fracasso escolar". Nesse aspecto, o trabalho escolar atual (o pblico com apenas maior evidncia do que o particular, embora ambos atados ao mesmo processo) seria responsvel por uma contraproduo. Em vez de produzirmos alunos/cidados, estaramos, de fato, produzindo futuros excludos em larga escala. Se levarmos em conta - e temos formalmente de fazlo - que sem escolaridade no h a possibilidade concreta de cidadania, e que, portanto, o que est em jogo na produo do fracasso escolar uma ameaa iminente ao direito constitucional dos "oito anos de escolaridade mnima e obrigatria", haveremos de convir que um misto de constrangimento e perplexidade habita - ou deveria habitar - todo aquele envolvido com o trabalho escolar. Pois ento, o que estaria acontecendo com essa instituio secular a ponto de, na prtica, invertermos seus preceitos formais? Por que a existncia extensiva de uma escola que, alm de no produzir os frutos esperados, expurga sua clientela? Mais ainda, por que a persistncia de uma escola que no consegue se democratizar plenamente, tanto do ponto de vista do acesso/permanncia da clientela quanto do ponto de vista da qualidade dos servios prestados? Por que fracasso em todo canto, tanto dos excludos quanto dos includos? Do confronto cotidiano com o peso de tal realidade, algumas justificativas para esse estado de coisas vm sendo dadas pelos agentes escolares em sua lida diria, especialmente pela categoria docente. bem verdade que atribumos responsabilidades e, muitas vezes, chegamos a beirar uma espcie de tese "conspiratria", como se v a seguir.
Interpelaes ao mbito tico das prticas escolares
Embalados por uma perspectiva politizante, acostumamo-nos a atribuir a suposta causa das inflexes escolares a instncias como: o Estado, o governo, os rgos governamentais, os setores burocrtico-administrativos, o staff tcnico da escola. Mas no s. Freqentemente atribumos a suposta "culpa" de nossos entraves profissionais s condies conjunturais da clientela. A ento surgem: a sociedade, as transformaes histricas, o background cultural da clientela, a (des)estruturao das famlias, as carncias de diferentes ordens, etc. O processo, como j ningum desconhece, desenrola-se mais ou menos assim: diante das dificuldades que se apresentam no dia-a-dia, professores culpam os alunos, que culpam os professores, que culpam os pais, que culpam os professores, que culpam o governo, que culpa os professores, que culpam a sociedade, e assim por diante, estabelecendo-se um crculo vicioso e improdutivo de imputao de responsalidades sempre a algum outro segmento envolvido. Contudo, do "atacado" das causas abstratas ao "varejo" dos seus efeitos concretos, uma tnica comum parece perpassar o modo com que temos enfrentado nossos dilemas profissionais: a responsabilizao cabal da clientela pelas dificuldades conjunturais, quando no pela inviabilidade estrutural, do trabalho pedaggico - o que se traduz concretamente nos altssimos e inadmissveis nveis de reprovao. Uma mxima muito freqente no meio escolar ilustra esse processo com clareza: "se o aluno aprende porque o professor ensina; se no aprende porque ele apresenta alguma defasagem ou disfuno". Nesse enunciado estranho e, curiosamente, familiar parece residir uma contradio lgica e uma armadilha tica. Ao mesmo tempo em que responsabilizamos o professor pelo sucesso escolar, o desassociamos inteiramente do fracasso. Mas, como possvel arcarmos com apenas o efeito esperado de nossa ao e, concomitantemente, nos desincumbirmos dos seus efeitos indesejveis ou, no limite, colaterais? Como possvel a coexistncia de dois mbitos de julgamento dissociados e, em certa medida, antagnicos para a mesma ao? Convenhamos que esse tipo de entendimento do trabalho escolar seria algo equivalente a uma afirmao do tipo: "o problema do mdico so os doentes", ou "o empecilho do escritor so os leitores", ou ento "o entrave do poltico so os eleitores". Estranho? No caso escolar no parece s-lo, tamanha a naturalidade com que temos depositado na clientela grande parte da responsabilidade sobre os nossos acidentes de percurso, os obstculos que permeiam o trajeto dessa profisso - o que, por sinal, no nenhum desprivilgio em relao a outras profisses, posto que todas elas se definem, a rigor, como uma resposta pontual a um determinado conjunto de problemas concretos materializado nas demandas da clientela. a, ento, que a figura do "aluno-problema" tem despontado, principalmente a partir da dcada de 80, como uma justificativa nuclear (inclusive com amparo terico) para as inflexes do cotidiano prtico do professor. E o que essa intrigante figura sinaliza? Em geral, aquele que no apresenta as "condies mnimas" para o aproveitamento pedaggico ideal, ou seja, aquele que porta algum dficit, ou mesmo um supervit, em relao ao padro pedaggico clssico ou ao perfil de desenvolvimento psicolgico esperado - por exemplo: alunos limtrofes versus superdotados, imaturos versus precoces, apticos versus hiperativos. Em sntese: aluno-problema aquele acometido por alguma espcie de "distrbio psicopedaggico". E quais so eles? Podem ser de ordem cognitiva (os famigerados "distrbios de aprendizagem") ou de ordem comportamental, e nessa ltima categoria enquadra-se um grande conjunto de aes que chamamos usualmente de "indisciplinadas". Nesse particular, o baixo rendimento e a indisciplina dos alunos seriam como duas faces de uma mesma moeda, representando os dois grandes males da escola contempornea e os dois principais entraves ao trabalho docente na atualidade. Ora, preciso alertar, enfaticamente, que na prpria fomentao traioeira dessa imagem origina-se, a nosso ver, grande parte das "faltas" ticas testemunhadas no nosso cotidiano escolar. Em maior ou menor grau, acabamos tomando a figura dos "alunosproblema" como obstaculizadora ou impeditiva de nosso trabalho, quando, a rigor,
poderia/deveria funcionar como propulsora de nossa ao profissional, vetor tico da interveno pedaggica e ocasio privilegiada de afirmao profissional e social do educador, bem como de (re)potencializao institucional do contexto escolar. O que fazer? Talvez uma imerso crtica nos argumentos que suportam esse tipo de raciocnio, de certa forma linear e superficial, possa nos auxiliar sensivelmente. Um primeiro passo para reverter esse estado de coisas exige que repensemos nossos posicionamentos, que revejamos algumas supostas evidncias sobre a clientela escolar que, no final das contas, apenas justificam o fracasso escolar, mas no conseguem alterar os rumos e os efeitos do nosso trabalho cotidiano. Algumas hipteses pelas quais se tenta explicar o baixo rendimento e a indisciplina discente valem a pena ser enunciadas. A nosso ver elas so, grosso modo, de trs ordens: - histrica: "ensino organizado e de boa qualidade para poucos, assim como o de antigamente"; - cultural: "a carncia (ou a abundncia) socioeconmica, logo cultural, um impeditivo para a ao pedaggica"; - psicolgica: "h necessariamente pr-requisitos morais e/ou cognitivos para o bom aproveitamento escolar". Por mais que tais argumentos marquem presena constante no imaginrio pedaggicoescolar, preciso estabelecer que eles configuram-se como silenciosas apropriaes explicativas que no se podem sustentar por completo, nem do ponto de vista terico, muito menos do ponto de vista tico, uma vez que se prestam a sacramentar, ainda que no explicitamente, a excluso escolar. A bem da verdade, um alinhamento tico claro em relao ao trabalho escolar na contemporaneidade pressupe o avesso, ou melhor, o inverso de tais justificativas. No primeiro caso, importante constatar a imagem romanceada que preservamos do ensino elitizado e do cotidiano militarizado das escolas, anterior aos anos 70 e proliferao das escolas privadas. Por mais que brademos o contrrio, o lema "educao para todos e de qualidade" tem-se revelado um binmio indigesto e quase intangvel na prtica - e o assim chamado "fracasso escolar" sua mostra mais contundente e onerosa. A despeito de intenes politicamente corretas, os protagonistas do cenrio escolar, confundindo democratizao com deteriorao da escola, acostumaram-se a um raciocnio que versa algo parecido com isso: "algo de qualidade no pode ser para todos, e se para todos no pode ser de qualidade". A imagem falseada que temos da suposta excelncia do ensino particular (fundamental e mdio) de hoje, em contraposio tambm suposta decadncia do ensino pblico, um bom exemplo dessa mxima perigosa e absolutamente antitica. No caso das outras duas hipteses, preciso enfatizar o seguinte: no h necessariamente pr-requisitos morais e/ou cognitivos, e muito menos econmicos e/ou culturais, para que se atinja o aproveitamento escolar ensejado. A no ser em casos extremos (isto , em quadros psicticos muito bem precisos), a ao escolar prescinde de qualquer tipo de a priori psicolgico e/ou cultural, assim como de competncias especiais para alm daquelas que uma criana/jovem em idade escolar apresenta. Se no, corremos o risco de imaginar que o trabalho escolar deveria destinar-se a um tipo de clientela especfica e j abastada cultural e/ou cognitivamente. Convm relembrar que no h clientela ideal (a no ser nas expectativas dos agentes, como oposio clientela concreta) e que a resposta bem-sucedida ou fracassada da clientela no algo de vspera, mas um produto da interveno escolar, ou seja, das relaes a forjadas. De mais a mais, no se pode aceitar com tanta naturalidade a tese da existncia de condutas "ilegtimas", "imprprias" ou "desviantes" por parte da clientela. Elas sero sempre, no limite, uma resposta ao que lhe ofertam os agentes. Decorre desse ponto de vista que o baixo rendimento e a indisciplina dos alunos devem ser compreendidos como efeitos sintomticos das prticas escolares, nunca como suas causas. Alm disso, tais inflexes revelam a crise paradigmtica imanente relao professor-aluno nesses conturbados dias em que vivemos. Ou seja, quando no se tem clareza quanto aos limites e possibilidades da ao escolar e, por extenso, do seu prprio lugar como educador, a
clientela passa a ser tomada como obstculo, empecilho, problema. At quando isso vai persistir no contexto escolar brasileiro?
Alguns encaminhamentos ticos para a prtica escolar
Apontamos at aqui as "faltas" ticas no interior das prticas escolares; cabe-nos agora apontar alguns preceitos que, no nosso entendimento, precisam ser preservados a qualquer custo na interveno pedaggica. O primeiro remete s questes que envolvem a avaliao da aprendizagem, to presentes nas preocupaes dos educadores, bem como dos rgos governamentais do setor. No raro que encontremos alegaes do tipo: " preciso avaliar constantemente", ou ento: "se no houver reprovao, no h ensino de verdade", ou mais drasticamente ainda: "professor bom aquele que reprova". Note-se que, a partir de enunciados como estes, acabamos tomando a avaliao (e no a tica) como reguladora da ao pedaggica. Isto , avaliar passa ser concebido como um direito "legal ou moral" do professor, enquanto ser avaliado, um dever tambm "legal ou moral" do aluno. Se a avaliao se naturaliza como a estratgia dominante ou exclusiva da interveno pedaggica, corremos o risco de tambm naturalizar o fracasso como o objeto contingencial (e inevitvel, portanto) da ao escolar. o alto preo que se paga por transformar um encontro que se desdobra em torno de regras construdas processualmente em um evento balizado por normas apriorsticas, por um padro excessivamente normativo (e, por extenso, excludente) como o da avaliao escolar, tal como a conhecemos. Cabe-nos, igualmente, questionar o que temos priorizado como foco de nossa atuao profissional: os meandros e nuanas do processo ensino-aprendizagem ou a avaliao dos resultados formais? E a que se tm prestado nossas prticas avaliativas: a confirmar os prognsticos fatalistas sobre a clientela, ou ao coroamento do nosso trabalho docente? Mesmo porque, numa reprovao final, algo de todos ns est sendo colocado sub judice. Portanto, um desfocamento do af avaliativo, alm de bastante oportuno, poderia promover uma nfase mais ntida no dia-a-dia da sala de aula, isto , na "qualidade" mesma do ensino. no espao "sagrado" das aulas, no instigante confronto cotidiano entre agentes e clientela, no prprio interior da relao professor-aluno, que a tica (ou a falta dela) presentifica-se com maior fora. O resto, e a avaliao dos resultados a includa, mera conseqncia! Outro preceito que conviria ser lembrado aquele referente aos modos de relao que estabelecemos em sala de aula. Uma prtica abominvel, mas muito em voga, nas escolas brasileiras a de "mandar o aluno para fora da sala" ou encaminh-lo para outras instncias sempre que uma atitude dissonante se faz presente. Ora, expuls-lo da sala mais do que um prenncio da excluso que tanto nos desabona; ela em ato! Abstenhamo-nos, pois, desse tipo de enfrentamento excludente, e atentemos para o fundamental dilogo com as diferenas, porque o encontro de sala de aula sempre movimento e diversidade, ou, em essncia, confrontao. Dessa forma, uma conduta no excludente implica o enfrentamento in loco das divergncias, a negociao, os ajustes das demandas. Incluso: eis a palavra imprescindvel, mas to pouco exercitada na prtica! Uma situao exemplar nesse sentido advm de uma afirmao que ouvimos de uma professora ainda muito jovem, negra, de uma escola pblica da periferia de So Paulo, do perodo noturno. Ela prognostica enfaticamente: "se retirssemos algumas mas podres, as outras no se estragariam", ao que lhe foi proposto por ns: "j lhe ocorreu que os negros foram considerados 'mas podres' um dia? E, alm disso, quem somos ns para determinar quais mas so podres e quais no? Voc, eu, quem?" Assim, um posicionamento tico efetivo por parte do profissional da educao pressupe necessariamente um carter inclusivo e, de certo modo, incondicional - porque "para todos". Desse modo, a premissa da incluso passa a ser a regra "nmero um" do
educador cioso de seus deveres tanto profissionais quanto sociais. Longe de configurar um ato de benevolncia, a relao que se deve ou pode estabelecer de parceria, cooperao (e, por que no dizer, de generosidade?); sempre tendo em mente, contudo, uma disparidade estrutural que condiciona a relao professor-aluno. H uma assimetria de base entre os lugares docente e discente, a qual deve ser preservada a todo custo, posto que a partir dela se pode exercitar a autoridade do professor. Autoridade de quem j um iniciado nas regras de um campo de conhecimento especfico, e que se retroalimenta ao partilh-las de fato com outrem (sempre crivado, claro, pelo paradoxo do conflito e da cooperao). Mas acaba a sua autoridade! Ou melhor, ela restringe-se ao domnio de um certo saber terico-prtico assim como de sua transmissibilidade - prefervel dizer "recriao". Um bom sinalizador dessa assimetria - ingrediente bsico do encontro entre professor e aluno - a prpria noo de "contrato pedaggico". importante que as "regras do jogo" estejam razoavelmente claras para ambas as partes, e que se limitem ao campo do conhecimento em pauta, mesmo que as clusulas contratuais tenham de ser relembradas ou transformadas intermitentemente. Muitas vezes os alunos, quando transgridem, o fazem mais por desconhecimento das (ou inconformidade s) regras implcitas do que por m-f. Convm repetir: regras atreladas ao funcionamento do campo de conhecimento em foco, e, portanto, regras no morais, no genricas, que no ultrapassem o domnio de um "dever fazer" especfico. Alertemos mais uma vez: o resto vem por acrscimo, por conseqncia. Isso no significa, porm, que as regras tenham de ser sempre idnticas, partilhadas por todos os professores indiscriminadamente, uma vez que o campo tico dispensa configuraes apriorsticas, apontando sempre uma processualidade pontual. As condutas docente e discente em uma aula de matemtica no precisam sequer ser semelhantes s de uma aula de literatura, j que diferentes objetos de conhecimento esto em jogo, e, portanto, diferentes competncias esto sendo perseguidas. Mas as particularidades e exigncias funcionais de cada qual devem ser explicitadas, se possvel no incio dos trabalhos. a necessria largada do jogo, para que ento possa ser jogado com maestria, tanto por aquele que j o conhece de perto quanto por aquele que nele est sendo iniciado. Uma vez dentro do jogo, muito mais difcil burl-lo ou impugn-lo; em verdade, raramente se almeja isto. No obstante, bastante comum ouvirmos que o grupo de alunos nem sempre consegue ter uma conduta semelhante diante das regras acordadas. O fantasma da "minoria que sabota" parece perseguir grande parte dos educadores, inclusive aqueles que prezam por um dilogo aberto e por um caminho construdo passo a passo. hora, ento, de rever o contrato! Se os acordos prvios no esto sendo levados a cabo ou a contento - mesmo que seja por uns poucos - o que estaria acontecendo? O que nos estaria impedindo de alcanar nossos projetos? E, alm disso, o que devemos ou podemos mudar, professor e alunos? Seria mesmo o caso de rever as regras do jogo a que nos propusemos no incio dos trabalhos? Da resposta "coletiva" a essas perguntas depende, sem dvida, o transcorrer e o sucesso do processo pedaggico. Sob essa perspectiva, cada vez que o jogo jogado trata-se, de certa forma, de um jogo novo. Mais correto seria dizer que ele reapropriado sempre de um modo singular. Portanto, h que se ter, como educador, uma certa permeabilidade mudana e inveno de novas estratgias. A clientela obriga-nos a refazer o percurso de nossa ao, sondar novas possibilidades, experimentar. Dessa forma, a sala de aula passa a se confundir cada vez mais com um laboratrio pedaggico. O que deu certo com uma turma certamente no persistir com outra - o que nos torna, de certo modo, privilegiados, visto que nos recoloca na salutar posio de permanentes aprendizes. certo que competncia terica e tcnica uma condio mesma do prprio jogo pedaggico. Contudo, aquilo que damos conotaes positivas usualmente como "acidentes de percurso" requer, mais do que uma reviso metodolgica e/ou terica, uma interpelao tica: o que precisa ser preservado em minha ao? Afinal de contas, a que ela se presta? Que mundo se vislumbra aqui e agora? Perguntas ao mesmo tempo sutis e
intrincadas, mas intransferveis, posto que conclamam a tica pedaggica, e to-somente ela, como reguladora da ao escolar. Que resposta se poderia dar a essas questes? A ttulo de concluso e como uma espcie de metfora, embora descontnua, de nosso trajeto at aqui, vale a pena recordar o poeta portugus Fernando Pessoa. Ele esmiua, a partir da imagem de um jogo de xadrez, a questo do enfrentamento tico nas aes e opes humanas, e nos ensina como proceder, dentro ou fora das escolas.6 Ouvi contar que outrora, quando a Prsia Tinha no sei qual guerra, Quando a invaso ardia na cidade E as mulheres gritavam, Dois jogadores de xadrez jogavam O seu jogo contnuo. sombra de ampla rvore fitavam O tabuleiro antigo, E, ao lado de cada um, esperando os seus Momentos mais folgados, Quando havia movido a pedra, e agora Esperava o adversrio, Um pcaro com vinho refrescava Sobriamente a sua sede. Ardiam casas, saqueadas eram As arcas e as paredes, Violadas, as mulheres eram postas Contra os muros cados, Traspassadas de lanas, as crianas Eram sangue nas ruas... Mas onde estavam, perto da cidade, E longe do seu rudo, Os jogadores de xadrez jogavam O jogo do xadrez. Inda que nas mensagens do ermo vento Lhes viessem os gritos, E, ao refletir, soubessem desde a alma Que por certo as mulheres E as tenras filhas violadas eram Nessa distncia prxima, Inda que, no momento que o pensavam, Uma sombra ligeira Lhes passasse na fronte alheada e vaga, Breve seus olhos calmos Volviam sua atenta confiana Ao tabuleiro velho. Quando o rei de marfim est em perigo, Que importa a carne e o osso Das irms e das mes e das crianas? Quando a torre no cobre A retirada da rainha branca, O saque pouco importa. E quando a mo confiada leva o xeque Ao rei do adversrio, Pouco pesa na alma que l longe
Estejam morrendo filhos. Mesmo que, de repente, sobre o muro Surja a sanhuda face Dum guerreiro invasor, e breve deva Em sangue ali cair O jogador solene de xadrez, O momento antes desse ( ainda dado ao clculo dum lance Pra a efeito horas depois) ainda entregue ao jogo predileto Dos grandes indif'rentes. Caiam cidades, sofram povos, cesse A liberdade e a vida, Os haveres tranqilos e avitos Ardem e que se arranquem, Mas quando a guerra os jogos interrompa, Esteja o rei sem xeque, E o de marfim peo mais avanado Pronto a comprar a torre. Meus irmos em amarmos Epicuro E o entendermos mais De acordo com ns-prprios que com ele, Aprendamos na histria Dos calmos jogadores de xadrez Como passar a vida. Tudo o que srio pouco nos importe, O grave pouco pese, O natural impulso dos instintos Que ceda ao intil gozo (Sob a sombra tranqila do arvoredo) De jogar um bom jogo. O que levamos desta vida intil Tanto vale se A glria, a fama, o amor, a cincia, a vida, Como se fosse apenas A memria de um jogo bem jogado E uma partida ganha A um jogador melhor. A glria pesa como um fardo rico, A fama como a febre, O amor cansa, porque a srio e busca, A cincia nunca encontra, E a vida passa e di porque o conhece... O jogo do xadrez Prende a alma toda, mas, perdido, pouco Pesa, pois no nada. Ah! Sob as sombras que sem qu'rer nos amam, Com um pcaro de vinho Ao lado, e atentos s intil faina
Do jogo do xadrez, Mesmo que o jogo seja apenas sonho E no haja parceiro, Imitemos os persas desta histria, E, enquanto l fora, Ou perto ou longe, a guerra e a ptria e a vida Chamam por ns, deixemos Que em vo nos chamem, cada um de ns Sob as sombras amigas Sonhando, ele os parceiros, e o xadrez A sua indiferena.
NOTAS
1 LALANDE, A. Vocabulrio tcnico e crtico da filosofia. Porto: Res, [s.d.] v.1. 2 MICHAELIS. Moderno dicionrio da lngua portuguesa. So Paulo: Melhoramentos, 1998. 3 BRASIL. Ministrio de Educao e Cultural. Parmetros curriculares nacionais: apresentao dos temas transversais, tica. Braslia: SEF, 1997. 146 p. 4 Id. ibid., p. 69. 5 Id. ibid., p. 80. 6 PESSOA, Fernando. Obra Potica./ Org., Intr. e Notas de Maria Aliete Galhoz. Rio de Janeiro: Aguilar, 1986. O poema transcrito est em Fices do Interldio / Odes de Ricardo Reis, p. 267-9.
También podría gustarte
- Livro - O Que É Psicologia Social - Silvia LaneDocumento89 páginasLivro - O Que É Psicologia Social - Silvia LaneAngelica Piovesan100% (4)
- Resenha Investidor InteligenteDocumento2 páginasResenha Investidor InteligenteHenrique Jameli100% (2)
- Fundamentos da Ética emDocumento67 páginasFundamentos da Ética emsamantaalex100% (1)
- Resumão Jurídico - Direito ComercialDocumento6 páginasResumão Jurídico - Direito ComercialMichael DouglasAún no hay calificaciones
- Serviço social, ética e saúde: Reflexões para o exercício profissionalDe EverandServiço social, ética e saúde: Reflexões para o exercício profissionalCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Conta de energia elétricaDocumento1 páginaConta de energia elétricaHebert Roberto75% (8)
- TRF ProfessoresDocumento7 páginasTRF ProfessoresBorboletAlexandra100% (2)
- 04 - Sociedade Brasileira e CidadaniaDocumento261 páginas04 - Sociedade Brasileira e CidadaniaRoberto Vilela100% (1)
- Os Fins e Os Meios e Ética para A Vida HumanaDocumento13 páginasOs Fins e Os Meios e Ética para A Vida HumanaJinie-Joice Rapper63% (8)
- Motivação e liderança de equipesDocumento8 páginasMotivação e liderança de equipesAlexandro OliveiraAún no hay calificaciones
- Aula 02 - Introdução À CinemáticaDocumento4 páginasAula 02 - Introdução À CinemáticaHebert RobertoAún no hay calificaciones
- Germano Guilherme CifradoDocumento59 páginasGermano Guilherme CifradoThiago100% (1)
- Resenha - O Estigma em GoffmanDocumento3 páginasResenha - O Estigma em GoffmanPerisson Dantas100% (3)
- ÉTICADocumento37 páginasÉTICACJG100% (2)
- Religião e métodoDocumento136 páginasReligião e métodoEudo FilhoAún no hay calificaciones
- Entre o bem e o mal: a bússola e a balança da moralDocumento39 páginasEntre o bem e o mal: a bússola e a balança da moralPaulo TarabaiAún no hay calificaciones
- Trabalho de Resumo Ética GlaucoDocumento9 páginasTrabalho de Resumo Ética GlaucoRaimundo Renato RabeloAún no hay calificaciones
- Ética segundo Aristóteles, Kant e LevinasDocumento5 páginasÉtica segundo Aristóteles, Kant e LevinasJúlio FlávioAún no hay calificaciones
- Defesa em procedimento disciplinarDocumento9 páginasDefesa em procedimento disciplinarDavicerada Vic Carter100% (1)
- Aula 04 - MRU e MRUVDocumento6 páginasAula 04 - MRU e MRUVHebert RobertoAún no hay calificaciones
- Merton - Estrutura Social e Anomia - MertonDocumento37 páginasMerton - Estrutura Social e Anomia - MertonSilvana Mariano100% (3)
- Curso - Etica TextoDocumento40 páginasCurso - Etica TextoWilRomaniAún no hay calificaciones
- Ética no CotidianoDocumento4 páginasÉtica no CotidianoClaudileneAún no hay calificaciones
- Panorama da ética na publicidadeDocumento85 páginasPanorama da ética na publicidadeLaura WottrichAún no hay calificaciones
- VINUTO - Representações Sociais Sobre A Família Do Adolescente em Conflito Com A LeiDocumento11 páginasVINUTO - Representações Sociais Sobre A Família Do Adolescente em Conflito Com A Leijvinuto123Aún no hay calificaciones
- A Importância Da Ética Na Formação de Recursos HumanosDocumento52 páginasA Importância Da Ética Na Formação de Recursos HumanosLeandro Castro80% (5)
- 6.4 EticaprofissionaleservicosocialparaalemdocodigodeeticaDocumento12 páginas6.4 EticaprofissionaleservicosocialparaalemdocodigodeeticaEmilia Dias da silvaAún no hay calificaciones
- Guia Ética InformáticaDocumento29 páginasGuia Ética Informáticaticiana_nw2004@yahoo.com.brAún no hay calificaciones
- ANDRADE e MORATO - para Uma Dimensão Ética Da Prática Psicológica em InstituiçõesDocumento9 páginasANDRADE e MORATO - para Uma Dimensão Ética Da Prática Psicológica em InstituiçõesCamila MaiaAún no hay calificaciones
- Os Fins e Os Meios e Ética para A Vida HumanaDocumento13 páginasOs Fins e Os Meios e Ética para A Vida HumanaArnaldo De MeloAún no hay calificaciones
- Relação Entre A Ética e A PsicologiaDocumento15 páginasRelação Entre A Ética e A PsicologiaLEYDI CAROLINA P. VASQUEZAún no hay calificaciones
- Etica PedagogicaDocumento13 páginasEtica PedagogicaAvelino AugustoAún no hay calificaciones
- Apostila de Junho Filosofia 2º A Ano en Medio 1Documento9 páginasApostila de Junho Filosofia 2º A Ano en Medio 1marcio jose de oliveiraAún no hay calificaciones
- Filosofia Trabalho-IsisbisisDocumento3 páginasFilosofia Trabalho-IsisbisisLeideAún no hay calificaciones
- Ética no serviço público: falta de conhecimento ou falta de açãoDocumento9 páginasÉtica no serviço público: falta de conhecimento ou falta de açãoHernani AntónioAún no hay calificaciones
- Psicologia MoralDocumento26 páginasPsicologia MoralJesus PabonAún no hay calificaciones
- Ética VendasDocumento9 páginasÉtica VendasFabio Peixoto0% (1)
- Aula 5 - PRINCÍPIOS ÉTICOSDocumento6 páginasAula 5 - PRINCÍPIOS ÉTICOSCaroline ArraesAún no hay calificaciones
- Tarefa Semana 1 Ética ProfissionalDocumento4 páginasTarefa Semana 1 Ética ProfissionalScribdTranslationsAún no hay calificaciones
- Etica SocialDocumento9 páginasEtica SocialPaulo IahimuacaAún no hay calificaciones
- Aula02 Unidade01 Ed01 Diagramado PDFDocumento18 páginasAula02 Unidade01 Ed01 Diagramado PDFRiquelson MangueiraAún no hay calificaciones
- Ética Nas OrganizaçõesDocumento9 páginasÉtica Nas OrganizaçõesLucas AlexanderAún no hay calificaciones
- Aula 1 - Ética Profissional e Código de Ética Do PsicólogoDocumento38 páginasAula 1 - Ética Profissional e Código de Ética Do PsicólogoGabi motaAún no hay calificaciones
- Ética e responsabilidade na sociedadeDocumento25 páginasÉtica e responsabilidade na sociedadeJanatiel NascimentoAún no hay calificaciones
- Filosofia - 10 - A Necessidade Uma Fundamentação Da MoralDocumento9 páginasFilosofia - 10 - A Necessidade Uma Fundamentação Da Moralmaria brancoAún no hay calificaciones
- Resenha AndréaDocumento4 páginasResenha AndréaHallana OliveiraAún no hay calificaciones
- Questões atuais em Direito Processual: perspectivas teóricas e contribuições práticas: Volume 2De EverandQuestões atuais em Direito Processual: perspectivas teóricas e contribuições práticas: Volume 2Aún no hay calificaciones
- Ética profissional do serviço social e seus limites na sociedade burguesaDocumento4 páginasÉtica profissional do serviço social e seus limites na sociedade burguesaCristiane PedrosoAún no hay calificaciones
- Ética e valores na formação profissionalDocumento18 páginasÉtica e valores na formação profissionalLu TelesAún no hay calificaciones
- U1 Ética Profissional Do CorretorDocumento16 páginasU1 Ética Profissional Do CorretorLuciana de OliveiraAún no hay calificaciones
- A Ética e suas relações com outras ciênciasDocumento6 páginasA Ética e suas relações com outras ciênciasAntonio CarlosAún no hay calificaciones
- Texto 1 - Conceitos FundamentaisDocumento21 páginasTexto 1 - Conceitos Fundamentaisanaaires2206Aún no hay calificaciones
- Inclusao EscolarDocumento24 páginasInclusao EscolarAline LopesAún no hay calificaciones
- U1 2 3 4 Ética Profissional Do CorretorDocumento71 páginasU1 2 3 4 Ética Profissional Do CorretorLuciana de OliveiraAún no hay calificaciones
- Análise Crítica Do Texto "O Trabalho e As Organizações AtuaçDocumento3 páginasAnálise Crítica Do Texto "O Trabalho e As Organizações AtuaçEduardo Santana riosAún no hay calificaciones
- Etica e Responsabilidade SocialDocumento15 páginasEtica e Responsabilidade SocialmicsilAún no hay calificaciones
- Michael, J. (1977) - Comportamentalismo Radical Como Um Estilo de VidaDocumento19 páginasMichael, J. (1977) - Comportamentalismo Radical Como Um Estilo de VidaFábio de SouzaAún no hay calificaciones
- Legislação Ética ProfissionalDocumento41 páginasLegislação Ética Profissionaljuju_araujo15Aún no hay calificaciones
- Ética e MoralDocumento7 páginasÉtica e Moralnomat49373Aún no hay calificaciones
- Ética, moral e suas implicações sociaisDocumento20 páginasÉtica, moral e suas implicações sociaisLuara DeusdaráAún no hay calificaciones
- Resenha Com o Tema ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIALDocumento5 páginasResenha Com o Tema ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIALValdeilckson Conceição75% (8)
- A Importancia Da Etica Soc e Etica 1 Sem 2019Documento6 páginasA Importancia Da Etica Soc e Etica 1 Sem 2019Thiago SabeAún no hay calificaciones
- MoreiraP L 2020 CrenaseNormasSociaisDocumento13 páginasMoreiraP L 2020 CrenaseNormasSociaisElvis HenriqueAún no hay calificaciones
- Ética e Responsabilidade Social - Repensando A Comunicação EmpresarialDocumento11 páginasÉtica e Responsabilidade Social - Repensando A Comunicação EmpresarialRegiane SantosAún no hay calificaciones
- Por Que Pensar Sobre a ÉticaDocumento17 páginasPor Que Pensar Sobre a ÉticadefelippoAún no hay calificaciones
- Tica e Filosofia Moral GeralDocumento21 páginasTica e Filosofia Moral GeraltpolliAún no hay calificaciones
- To - ÉticaDocumento5 páginasTo - ÉticaMurilo CavagnoliAún no hay calificaciones
- Alguns Suportes Éticos Da Vida Humana ContemporâneaDocumento6 páginasAlguns Suportes Éticos Da Vida Humana ContemporâneaMoisés Brown MessiAún no hay calificaciones
- Introduçã1Documento8 páginasIntroduçã1alexandrina arigeAún no hay calificaciones
- Análise da Gestão na Fundação Amazonprev à Luz da ÉticaDe EverandAnálise da Gestão na Fundação Amazonprev à Luz da ÉticaAún no hay calificaciones
- Campo EletricoDocumento23 páginasCampo EletricoHebert RobertoAún no hay calificaciones
- Aula 05 - Lista Exercícios Complementares MRU MRUVDocumento7 páginasAula 05 - Lista Exercícios Complementares MRU MRUVHebert RobertoAún no hay calificaciones
- O Comum No ComunismoDocumento17 páginasO Comum No ComunismolilianedesouzaaAún no hay calificaciones
- Aula 03 - Aceleração EscalarDocumento1 páginaAula 03 - Aceleração EscalarHebert RobertoAún no hay calificaciones
- Defeitos Da VisãoDocumento12 páginasDefeitos Da VisãoHebert RobertoAún no hay calificaciones
- Palestra Tribo NamoroDocumento33 páginasPalestra Tribo NamoroTarcisio ÉricaAún no hay calificaciones
- A autoconsciência kantiana e a identidade do sujeitoDocumento10 páginasA autoconsciência kantiana e a identidade do sujeitoMarcos ViniciusAún no hay calificaciones
- Modelo de Mandado de SegurançaDocumento26 páginasModelo de Mandado de SegurançaAna Clara PinheiroAún no hay calificaciones
- Christian WolffDocumento1 páginaChristian WolffjpcidturAún no hay calificaciones
- Fluxograma dos pioneiros da sociologiaDocumento6 páginasFluxograma dos pioneiros da sociologiaPuloskyAún no hay calificaciones
- Um Comentário Da Confissão de Fé Batista de 1689 Por Gary Marble - Sobre Capítulo 2 - Deus e A Santíssima TrindadeDocumento36 páginasUm Comentário Da Confissão de Fé Batista de 1689 Por Gary Marble - Sobre Capítulo 2 - Deus e A Santíssima TrindadeReynan MatosAún no hay calificaciones
- Angeles Cantando EstanDocumento2 páginasAngeles Cantando EstandanielAún no hay calificaciones
- Pacto Das Células (Completo)Documento2 páginasPacto Das Células (Completo)EdiaooAún no hay calificaciones
- SOA071D Sociologia Da Violencia e Criminalidade Cluadi...Documento3 páginasSOA071D Sociologia Da Violencia e Criminalidade Cluadi...Jorge AntonioAún no hay calificaciones
- Direitos Humanos e CidadaniaDocumento4 páginasDireitos Humanos e CidadaniaaleregsilvaaAún no hay calificaciones
- Relatório de processo sobre cobrança indevida de águaDocumento4 páginasRelatório de processo sobre cobrança indevida de águayasmin cristinyAún no hay calificaciones
- Suma Teológica Questão 149 Sobriedade e Questão150 EmbriaguezDocumento24 páginasSuma Teológica Questão 149 Sobriedade e Questão150 EmbriaguezDeposito da Fé da Igreja Católica Apostolica RomanaAún no hay calificaciones
- Dom5328 - AssinadoDocumento10 páginasDom5328 - AssinadoHelmuth SouzaAún no hay calificaciones
- Acao de Alimentos Gravidicos CC Tutela de Urgencia de Natureza AntecipadaDocumento6 páginasAcao de Alimentos Gravidicos CC Tutela de Urgencia de Natureza AntecipadaMaria Eduarda Porto De SouzaAún no hay calificaciones
- Mulheres Diplomatas No Itamaraty - Ministro Guilherme José Roeder FriaçaDocumento388 páginasMulheres Diplomatas No Itamaraty - Ministro Guilherme José Roeder FriaçaViviane MenezesAún no hay calificaciones
- Resumo 1 - Paz e GuerraDocumento8 páginasResumo 1 - Paz e GuerraGaston Marinho Weill86% (7)
- Convocação Da Etapa de TítulosDocumento1 páginaConvocação Da Etapa de TítulosThaís RezendeAún no hay calificaciones
- Chave Bíblica PDFDocumento44 páginasChave Bíblica PDFIrineu BarrosAún no hay calificaciones
- Exercícios sociologia diversidade raça gênero sexualidadeDocumento2 páginasExercícios sociologia diversidade raça gênero sexualidadeRonaldo100% (1)
- Crônicas de Drummond sobre sociedade e amorDocumento5 páginasCrônicas de Drummond sobre sociedade e amorLuiz GustavoAún no hay calificaciones
- O Brasil e A Liga Das Nacoes 1919-1926 VDocumento118 páginasO Brasil e A Liga Das Nacoes 1919-1926 VINTERNACIONALISTAAún no hay calificaciones
- Resumo "O Conceito de Segurança" de David BaldwinDocumento6 páginasResumo "O Conceito de Segurança" de David BaldwinJarbely Costa100% (1)